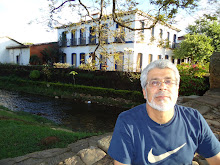Fora da Misericórdia não há
salvação
(Entrevista no IHU)
Há um
murmúrio ensurdecedor que clama por socorro e que não é capaz de ser percebido
pelos ouvidos, senão pela misericórdia.
“Assumir essa dimensão evangélica é romper com o círculo vicioso do
egocentrismo e deixar-se habitar, no fundo do coração, pelo grito do outro”,
aponta Faustino Teixeira
em entrevista por e-mail à IHU On-Line. “Mas evidente que a Misericórdia
não constitui um patrimônio exclusivo do cristianismo. Trata-se de um
valor que se irradia em muitas tradições religiosas. Merece destaque a presença
do tema no budismo tibetano. A compaixão, nying je, vem
identificada com a empatia, com a capacidade essencial de participar e
partilhar o sofrimento alheio”, complementa.
No que diz
respeito à Igreja Católica, o entrevistado aponta que a principal
inovação no pontificado de Francisco
foi buscar um olhar a partir do evangelho. “Ao enfatizar essa dinâmica
evangélica, o tema da Misericórdia veio junto, pois ela está no cerne do
evangelho. O grande mérito de Francisco foi saber recolher esse tema e fazer
dele a chave essencial de seu pontificado”, esclarece. “A igreja deve deixar-se
habitar não pelas armas da severidade, mas pela medicina da
misericórdia. Com esse mote, assume e leva em frente o seu
pontificado, buscando antecipar o sonho de uma igreja misericordiosa; de uma
igreja que rompe com seu ensimesmamento e sai ao encontro do outro, sobretudo
do mais pobre, marginalizado e excluído”, avalia.
1. Qual é a diferença entre o
perdão e a misericórdia?
A chave de
compreensão mais profunda para acessar o significado do perdão é a da
Misericórdia. Em seu significado literal latino, a misericórdia envolve o
movimento do coração (cor) em direção
aos pobres (miseri). Estamos diante
de um tema bíblico de grande profundidade, que veio sublinhado de forma tão
rica pelo grande estudioso Jacques Dupont. Em sua obra sobre as
bem-aventuranças acentuava essa predileção de Deus pelos pobres e miseráveis,
independentemente de sua piedade. A misericórdia é um dom de Deus e centro
nevrálgico do evangelho. Assumir essa dimensão evangélica é romper com o
círculo vicioso do egocentrismo e deixar-se habitar, no fundo do coração, pelo
grito do outro. Aquele que vem tocado pela nota da Misericórdia de Deus é capaz
de perdoar. Num livro extremamente instigante sobre o tema do perdão (Pecar e perdoar, 2014), o historiador
Leandro Karnal fala sobre a dificuldade humana de acolher esse valor. Saber
perdoar é um dos desafios mais delicados que o ser humano encontra em seu
caminho. As relações humanas são frágeis, e diante das crises ou ofensas, é
como se um “fino vaso” se quebrasse, e por mais que as tentativas de unir as
partes pudessem acontecer, tornando a ruptura quase imperceptível, um “simples
toque”, de descuido ou desatenção, pode novamente revelar a fratura. Na bela
passagem do evangelho de Lucas, no relato do filho pródigo (Lc 15,11-32),
encontramos um pai verdadeiramente misericordioso, capaz de perdoar. O perdão
vem precedido pelo arrependimento sincero. Esta parábola ilustra o que
significa a “vitória do amor”, mas igualmente a delicada situação de todo ser
humano, que é falho e esbanjador. Tem razão Karnal ao sublinhar que o perdão “é
um gesto que reconhece a fraqueza, a falibilidade e o embaraço humano
estrutural diante do Bem”. Ele sublinha que “perdoar não é esquecer nem dar
livre passe para mais erros. É só o reconhecimento de que houve um erro e há a
disposição para que não ocorra de novo. Perdoar é só reconhecer a humanidade do
pecador, nunca é uma defesa do pecado”.
2. Qual é a importância de ambos em nossos
dias?
Falando a
partir de minha perspectiva cristã, acredito que deixar-se animar pelo dom da
Misericórdia é um dos imperativos mais essenciais do seguimento de Jesus.
Vivemos num tempo marcado pelo “desgaste da compaixão”, um tempo de aquecimento
egocêntrico e excludente. Assistimos quase indiferentes ao triste espetáculo da
rejeição absurda do mundo da alteridade, como vem ocorrendo hoje na Europa com
o rechaço dos imigrantes. O outro entra em cena fazendo “barulho” e
atemorizando aqueles que se instalam rigidamente do âmbito das identidades
cerradas. O apelo da Misericórdia e da Compaixão passam ao largo. Mas para os
que buscam acionar a espiritualidade profunda, esse apelo remove novamente as
entranhas, apontando para um horizonte distinto. No caso dos cristãos, como
mostrou com acerto José Antonio Pagola em sua obra sobre Jesus, deixar-se tocar
pelo seu projeto, é deixar-se habitar por uma dimensão mais profunda e uma
verdade mais essencial. É estar diante de uma convocação irrevogável: um “chamado
a viver a existência a partir de sua raiz última, que é um Deus que só quer
para seus filhos e filhas uma vida mais digna e feliz”. O mesmo apelo
evangélico que suscita a misericórdia e compaixão, é o apelo que nos
disponibiliza a perdoar. A parábola evangélica do filho pródigo nos aponta o
caminho mais nobre: da metáfora de um Deus acolhedor que abre seus braços, sem
levantar questionamentos, para acolher aquele que se distanciou, mas que soube
reconhecer sua falha.
3. Em que aspectos a misericórdia não é
exclusivamente cristã?
Mas evidente
que a Misericórdia não constitui um patrimônio exclusivo do cristianismo.
Trata-se de um valor que se irradia em muitas tradições religiosas. Merece
destaque a presença do tema no budismo tibetano. A compaixão, nying je, vem identificada com a empatia,
com a capacidade essencial de participar e partilhar o sofrimento alheio.
Segundo Dalai Lama, a sensibilidade para com o sofrimento alheio é um traço
peculiar do budismo, de uma compaixão que se amplia universalmente: “Ela atinge
um ponto em que somos tão tocados pelo sofrimento alheio, mesmo em sua forma
mais sutil, que se desenvolve em nós uma irresistível noção de responsabilidade
por todos os semelhantes”. No budismo tibetano encontramos o ideal do bodhisattva, do buscador que tendo
diante de si o nirvana, o repouso absoluto na luz, prefere permanecer atento no
mundo, em contato com o sofrimento, entendendo que o repouso derradeiro só pode
ser alcançado quando superado todo e qualquer resquício de dor. Na tradição
judaica temos a bela ideia do Deus que se faz presença no meio do mundo: a
singular imagem da shekinah, que
indica a Presença de Deus no mundo, de um Deus que acolhe com carinho a ideia
de partilhar as dores do mundo. Nesta tradição se fala em rahamîm, do Deus com entranhas de Misericórdia; e também de hesedh, entendida como graça
misericordiosa de Deus. De forma similar, no islã, encontramos a ideia do Deus
omni-misericordioso (rahman) e
misericordioso (rahim), um tema
recorrente em todas as suras do Corão, com exceção de uma. E justo para mostrar
a proximidade de Deus do humano, do Deus que não é somente distância e mistério
tremendo – tanzih -, mas também mais próximo do humano do que sua veia jugular:
tashbih. Essa generosidade divina vem cantada por todos os místicos sufis, como
no caso do místico afegão Rûmî:
“De toda
parte chega o segredo de Deus
eis que todos correm, desconcertados.
Dele, por
quem todas as almas estão sedentas,
chega o
grito do aguadeiro.
Todos bebem
o leite da generosidade divina
e querem
agora conhecer o seio de sua nutriz.
Apartados,
anseiam por ver
O momento do
encontro e da união (...)”.
4. Como os luteranos veem a questão da
misericórdia?
O tema da
Misericórdia de Deus é nodal na tradição luterana. Foi mérito de Lutero ter
reconhecido que a justiça de Deus não é uma justiça de punição, que castiga o
pecador, mas um dom que justifica. Foi o caminho que encontrou para se libertar
de uma dolorosa questão que o atormentava por longo tempo: “Como posso
encontrar um Deus benigno?” Com base na reflexão bíblica e no caminho da
tradição, em particular Agostinho, deu-se conta de que a justiça de Deus é uma
justiça justificante, onde a pérola essencial é a Misericórdia. Ao comentar o
Salmo 98, Lutero reconhece que o ser humano permanece com a marca do pecado,
sendo incapaz de merecer a felicidade eterna, mas o Deus Misericordioso “se
recusa a atentar nas faltas do pecador”, e oferece a justificação pela fé. Ou
seja, Deus acolhe com alegria aqueles que o invocam com lágrimas sua
justificação. O ser humano vem assim justificado pela bondade de Deus que
perdoa gratuitamente. Como assinalou o cardeal Walter Kasper em sua obra sobre
a Misericórdia (2012), “a relação entre justiça e misericórdia torna-se, assim,
a questão central da teologia ocidental” a partir de então. O entendimento
entre católicos e luteranos sobre esse tema só veio acontecer no século XX, e
agora os dois segmentos podem juntos celebrar esse novo testemunho, de que a
justiça de Deus é a sua Misericórdia.
5. Qual é o lugar da misericórdia enquanto
núcleo fundamental da essência divina e da revelação cristã?
Em sua rica
obra sobre a Misericórdia, Walter Kasper assinalou que este tema veio
“imperdoavelmente transcurado” na reflexão teológica cristã ao longo dos anos.
Ele observa que “nos manuais dogmáticos tradicionais e mais recentes a
misericórdia de Deus vem tratada só como uma das propriedades de Deus entre
outras e, muitas vezes, de forma breve, após a reflexão sobre as outras
propriedades de Deus, que derivam de sua essência metafísica”. Hoje se recupera
a centralidade da Misericórdia no testemunho bíblico, sem a qual não se pode
entender de forma alguma o significado mais profundo do Mistério de Deus. A
Misericórdia “é o coração da mensagem bíblica, como superação, e não atenuação,
da justiça”. Lemos no Salmo 86,15 que Deus se apresenta como “piedade e
compaixão”. O mesmo ocorre no Segundo Testamento, onde vem chamado de “Pai das
misericórdias e Deus de toda consolação” (2 Cor 1,3) e Deus “rico em
misericórdia” ( Ef 2,4). Merecem destaque muito especial as duas parábolas que
apresentam a figura do Pai Misericordioso: a parábola do bom samaritano (Lc
10,25-37) e a do filho pródigo (Lc 15,11-32). Nesta última parábola, o tema vem
descrito de forma exemplar. Como assinala José Antonio Pagola em sua obra sobre
Jesus, trata-se da parábola que melhor reflete a metáfora de Deus, enquanto Pai
acolhedor. Ela traduz uma “verdadeira revolução”. É quando Jesus apresenta este
“banquete esplêndido para todos, fala de música e danças, de homens perdidos
que provocam a ternura de seu pai, de irmãos chamados a perdoar-se”. Essa sim é
a verdadeira boa notícia de Deus.
6. Qual é a novidade da abordagem da
misericórdia no pontificado de Francisco?
Não se pode
falar propriamente em surpresa no pontificado de Francisco. O que ele fez,
desde o início, foi algo extremamente simples: retomar o ritmo do evangelho na
vida da igreja. Esse foi o seu gesto novidadeiro, trazer para o centro a
“eterna novidade do evangelho”, como bem expressou Walter Kasper. E ao
enfatizar essa dinâmica evangélica, o tema da Misericórdia veio junto, pois ela
está no cerne do evangelho. O grande mérito de Francisco foi saber recolher
esse tema, e fazer dele a chave essencial de seu pontificado. Como indica
Francisco na sua encíclica Evangelii
gaudium, “Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de
pedir” (EG 3). O evangelho, como aponta Francisco, é esse convite permanente à
alegria, ao acolhimento dessa dinâmica terna de nos reconhecermos
“infinitamente amados”. Francisco segue aquela linda trilha de João XXIII,
indicada no famoso discurso de abertura do Concílio Vaticano II, de que a
igreja deve deixar-se habitar não pelas armas da severidade, mas pela medicina da
misericórdia. Com esse mote, assume e leva em frente o seu pontificado,
buscando antecipar o sonho de uma igreja misericordiosa; de uma igreja que
rompe com seu ensimesmamento e sai ao encontro do outro, sobretudo do mais
pobre, marginalizado e excluído. No belo diálogo com Antonio Spadoro, o papa
Francisco assinala que o anúncio evangelizador deve firmar-se no que é mais
essencial, na retomada evangélica, ou seja, naquilo “que mais apaixona e atrai,
aquilo que faz arder o coração, como aos discípulos de Emaús”.
7. Em que medida as ações de Francisco como
“pastor” expressam a sua visão de misericórdia?
Para
responder com pertinência a tal questão, devo antes assinalar um ponto
essencial no pontificado de papa Francisco: a centralidade concedida ao ágape.
Como apontou Francisco na entrevista com Eugenio Scalfari, o ágape “é o único
modo que Jesus indicou para encontrar o caminho da salvação e das bem-aventuranças”.
É com essa chave do ágape, do amor, que devemos situar a visão de misericórdia
vivenciada por Francisco. E busca realizar isso com muita radicalidade.
Assinala que a missão dos missionários é “viver na fronteira e ser audazes”.
Sua visão de misericórdia vem ocorrendo em vários campos de tensão, onde as
feridas encontram-se ainda abertas, como na avaliação dos divorciados
recasados, dos casais homossexuais e outras tantas situações complexas. A
resposta do pontífice tem sido sempre no campo da acolhida, buscando
“considerar a pessoa” e situar com honestidade e ternura diante do mistério que
envolve o ser humano. E sempre levando em conta o contexto específico. Em
síntese, a sua visão pastoral é diversa da tradicional. Para Francisco, a
pastoral misericordiosa é aquela que “não está obcecada pela transmissão
desarticulada de uma multiplicidade de doutrinas” e imposições, mas concentrada
naquilo que há de mais essencial no evangelho que é o amor.
8. O que a parábola do bom
samaritano tem a dizer às pessoas em nosso tempo?
Sempre que
me deparo com esta parábola, o que me vem à mente é a reflexão de Gustavo
Gutiérrez no seu clássico livro sobre a teologia da libertação (1972). No
capítulo que aborda o tema do encontro com Deus na história, ele fala do amor
humano de Cristo, mediante o qual ele revela o amor do Pai. Como mostra
Gutiérrez, “a caridade, amor de Deus aos homens, existe encarnada no amor
humano”. E como exemplo, fala da parábola do bom samaritano. Indica que aquele
que se acerca do ferido que está à beira do caminho não é o religioso, que age
por obrigação de fé, mas aquele que vê suas entranhas revolvidas diante da dor
do outro, aquele que “moveu-se de compaixão” (Lc 10,33). Também José Antonio
Pagola, ao comentar essa parábola, assinala que para Jesus “a melhor metáfora
de Deus é a compaixão para com um ferido”. É uma parábola desconcertante, onde
tudo vem invertido: o religioso passa ao largo, e quem se debruça sobre o outro
é o odiado inimigo samaritano. Em verdade, como diz Pagola, “o reino de Deus se
torna presente onde as pessoas atuam com misericórdia”. A grande mensagem
deixada por essa parábola para nós hoje é o desafio essencial da compaixão para
com os excluídos, marginalizados e sofridos. Ao iniciar realmente o seu
pontificado entre os excluídos de Lampeduza, o papa Francisco deixou uma
mensagem evidente para todos: não há como viver a vida evangélica fora do
exercício da compaixão e da misericórdia.
9. Gostaria de acrescentar algum
aspecto não questionado?
Gostaria
apenas de deixar duas belas indicações de leitura, que nos ajudam a situar de
forma adequada diante deste tema tão urgente mas olvidado: José Antonio Pagola.
Jesus. Aproximação histórica.
Petrópolis: Vozes, 2010 (já na sétima edição); Walter Kasper. Misericordia. Concetto fondamentale del
vangelo – chiave della vita Cristiana. 6 ed. Brescia: Queriniana, 2015. Este
último livro deveria ganhar logo uma tradução brasileira.
(Publicado
no IHU-Notícias de 26 de junho de 2016)