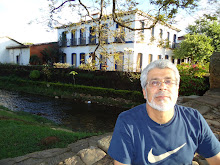O campo religioso brasileiro no Censo de 2010
Faustino Teixeira
PPCIR-UFJF
Introdução
Os primeiros números do Censo de
2010 sobre as religiões no Brasil foram publicados pelo IBGE no final de junho
de 2012. Uma divulgação que ocorreu quase dois anos depois da aplicação dos
questionários pelos recenseadores. Uma abordagem ampla sobre esse tema veio
destacada no livro que organizei junto com Renata Menezes: Religiões em movimento. O Censo de 2010[1]. O
que pretendo fazer aqui é retomar a análise dos dados que desenvolvi no artigo
de abertura desse mencionado livro.
No prefácio da obra, Religiões em Movimento, Pierre Sanchis
confirma essa “reemergência” do sagrado na vida social e na experiência
pessoal, que se dá “ao lado e articuladamente com a secularização”. Constata
ainda o crescente interesse pelo fenômeno religioso no âmbito da academia.
Dentre as linhas de mudança apontadas por ele, destacam-se a emergência do
indivíduo e a crescente desinstitucionalização.[2] O autor indica que o universo das experiências
religiosas deixa hoje de ser regido por estruturas sólidas e reguladoras,
tornando-se mais fluido, pontuado agora por relações menos totalizantes entre
os fiéis e as suas instituições religiosas de pertença. Fica assim, cada vez
mais difícil, a afirmação rígida das declarações de pertença religiosa,
exigindo do analista uma reflexão mais afinada para dar conta dessa
complexidade.
Isso tem uma direta repercussão no
debate sobre o lugar e a importância do censo para aferir com exatidão o campo
religioso brasileiro. Analistas desta questão, como Renata Menezes e Clara
Mafra, tratam da complexidade envolvida no debate sobre o uso dos dados de
religião nos censos ocorridos no Brasil. Como argumenta Sanchis, o censo não é
senão “um instantâneo sobre a situação que ele visa” e o quadro que ele indica
“é dependente das categorias escolhidas”, exigindo atenção do analista para
aventar suas hipóteses[3].
Há muita riqueza nessa “memória acumulada” do censo, envolvendo 130 anos de
história, desde 1872[4].
Ele traduz “uma fotografia da autodeclaração religiosa em determinado contexto”[5],
ajudando no “refinamento do estudo da religião”[6].
Mas trata-se de um instrumento que necessita de “exploração qualificada”, de
pesquisas qualitativas que possam agregar outras variáveis para a análise
empreendida.
Com respeito aos dados sobre
religião apresentados pelo Censo de 2010, diversas críticas foram tecidas por
analistas, relacionadas à sua metodologia[7], à
sua dificuldade para captar a “dinâmica
religiosa” do país[8], à
sua imprecisão no afinamento do instrumental para compreender o campo
protestante, bem como o fenômeno das múltiplas pertenças, dos fluxos e
trânsitos religiosos ou os sincretismos menos visíveis[9].
Não há dúvida sobre a ajuda fornecida pelo censo para “visualizar as
macrolinhas das transformações de uma década”, mas mostra-se limitado para
“qualificar a mudança, ou entender suas nuances”. Só com a ajuda da abordagem
qualitativa abre-se o acesso aos “processos mais sutis de transformações e
combinações nas esferas dos valores e das crenças”[10].
Apesar de seus limites, o Censo do
IBGE apresenta dados que são muito importantes para sinalizar tendências no
campo religioso brasileiro. Um dos traços que vem se delineando desde o Censo
de 2010 é a progressiva pluralização e diversificação do campo em questão.
Destaca-se também a intensificação do trânsito religioso, da provisoriedade da
adesão e a dinâmica da privatização da prática religiosa. Em linha de
continuidade com o censo anterior, verifica-se uma queda percentual católica,
uma continuidade no crescimento evangélico e em ritmo menor, dos sem religião.
Católicos e evangélicos
O catolicismo romano é ainda
preponderante, mas perde a cada década sua centralidade, passando a se firmar
como “religião da maioria dos brasileiros”, mas não mais a “religião dos
brasileiros”. E pela primeira vez, no Censo de 2010, a queda percentual dos
declarantes católicos refletiu-se em números absolutos, com o ritmo de
crescimento menor dos católicos com respeito ao crescimento da população
brasileira[11].
Sinalizam com razão, Ronaldo de Almeida e Rogério Barbosa, que essa nova
situação do catolicismo foi um dos efeitos da pluralização em curso.
Fragiliza-se o peso da tradição e vem reforçada a busca de alternativa
individual no processo de afirmação da identidade religiosa[12].
Mesmo assim, como mostrou Pierucci, apesar desse “declínio
moderado, mas constante”, a presença católico-romana é ainda muito grande: “é
católico que não acaba mais”[13].
O censo revela a presença de 123.280.172 milhões de declarantes católicos, ou
seja, 64,63% da população total. A retração do catolicismo não reflete na
diminuição do cristianismo, já que o crescimento dos evangélicos vem se
acentuando a cada década. Mudanças são, de fato, visíveis no cenário religioso
brasileiro, com sinais patentes de pluralização, mas o traço da hegemonia
cristã permanece aceso: “O Brasil não está deixando de ser um país cristão,
embora seja menos católico, protestante tradicional ou ´evangélico de missão`
em 2010”[14].
Somando os católicos com os evangélicos chega-se a uma porcentagem de 86,8%,
quase 90% de toda a população brasileira declarante. Há que sublinhar também o
traço peculiar do catolicismo brasileiro, com suas malhas largas e seu perfil
plural. Um catolicismo que acolhe e convive com a diversidade, “em que Deus
pode ter muitos rostos”. Sublinha-se que “talvez seja o exemplo mais fiel de
uma tradição religiosa – dentro e fora do cristianismo – de um sistema de
sentido pluri-aberto, multi-cênico e em constante transformação”[15].
A continuidade do crescimento evangélico esteve também
evidenciada nesse Censo de 2010. Na avaliação de Cecília Mariz e Paulo Gracino
Jr, em artigo sobre o tema, ocorreu um significativo incremento na presença
evangélica nas últimas décadas, com um salto de 6,6% em 1980 para 22,2% da
população geral em 2010[16].
Nada menos do que 42.275.440 milhões de evangélicos para uma população
brasileira de 190.755.799[17].
Esse crescimento não se deve aos evangélicos de missão, que permaneceram quase
estacionados na última década, na faixa dos 4% de declaração de crença[18].
Deve-se, sobretudo, aos pentecostais, que respondem por 13,3% da população
brasileira, ou seja, 25.370.484 milhões de adeptos[19].
Num divertido exercício, Leonildo Campos assinala que os evangélicos
conquistaram na última década cerca de 4.408 novos fiéis por dia, e os de
origem pentecostal, cerca de 2.124 por dia, sendo a Assembleia de Deus
responsável por 1.067 adesões diárias[20].
É extraordinário esse crescimento pentecostal em termos
absolutos, na faixa de 17 milhões de fiéis entre os anos de 1991 a 2010. Mas os
analistas advertem que o crescimento evangélico, incluindo os pentecostais, não
pode ser muito otimizado, já que na última década, de 2000 a 2010, esse
crescimento foi menor do que o ocorrido na década anterior. Como mostrou Paulo
Ayres, o crescimento dos evangélicos entre 1991 e 2000 foi de 120%, enquanto na
última década, de 2000 a 2010, esse crescimento foi de aproximadamente 62%[21].
Vale registrar, no campo pentecostal, o decréscimo de fiéis – em números
absolutos - ocorrido na última década em igrejas importantes como a Congregação
Cristã do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja do Evangelho
Quadrangular. Incremento importante teve, por sua vez, a Assembleia de Deus, a
maior do campo pentecostal – com 12,3 milhões de adeptos -, que registrou um
aumento de 4 milhões de fiéis na última década[22].
A dificuldade de precisão analítica na apreensão correta
dos dados sobre os evangélicos deve-se, em parte, ao significativo número de
fiéis evangélicos classificados na categoria de “evangélicos não determinados”.
Nada menos do que 9,2 milhões de pessoas, perfazendo 21,8% de todo o
contingente evangélico, num patamar que envolve 5% de toda a população
brasileira. Alguns analistas os identificam como “evangélicos genéricos” ou
“evangélicos sem igreja”, indicando a afirmação de uma diversidade interna no
campo evangélico, seja mediante caminhos diversificados de assunção da pertença
evangélica, seja no exercício de crença fora das instituições, ou na múltipla
pertença evangélica. A inserção desse
item classificatório no Censo de 2010 acaba dificultando a aferição analítica
do real crescimento evangélico, seja dos evangélicos de missão ou dos
evangélicos pentecostais[23]. Para o teólogo luterano, Walter Altmann, esse
grande contingente de evangélicos não determinados “já alteraria
substancialmente os números referentes a igrejas de origem pentecostal, mas
extraordinariamente os referentes às igrejas de missão que muito possivelmente
ficaram subcontabilizados”[24].
Sem-religião
Em artigo publicado em 2004, Antônio Flávio Pierucci
buscava explicar o “declínio das religiões tradicionais no Censo de 2000”. Ao
tratar do refluxo do catolicismo, justificava a situação com o clima instaurado
nas sociedades pós-tradicionais, com a crise das filiações tradicionais:
“Nelas os indivíduos tendem a
se desencaixar de seus antigos laços, por mais confortáveis que antes pudessem
parecer. Desencadeia-se nelas um processo de desfiliação em que as pertenças
sociais e culturais dos indivíduos, inclusive as religiosas, tornam-se
opcionais e, mais que isso revisáveis, e os vínculos, quase só experimentais,
de baixa consistência. Sofrem, fatalmente, com isso, claro, as religiões
tradicionais” [25] .
A crescente afirmação dos sem
religião nos dois últimos censos pode encontrar uma pista de interpretação
nessa abordagem de Pierucci. Os declarantes que se encaixam nessa categoria
estão mesmo desencaixados de laços institucionais, situando-se, melhor, como
peregrinos do sentido. São pessoas que, como bem expressou Sílvia Fernandes,
estão “em redefinição de identidade”. Dentre os tipos predominantes de
sem-religião encontram-se aqueles que se desvincularam de uma religião
tradicional e afirmam sua crença com base em rearranjos pessoais; aqueles que
passaram por diversos trânsitos mas que não se encontraram em nenhum deles;
aqueles que mantêm uma espiritualidade leiga ou secular; aqueles que mantêm uma
filiação fluida em razão da indisponibilidade de participação religiosa regular
e aqueles que se definem como ateus ou agnósticos[26].
No Censo de 2010, foram cerca de
15,3 milhões de pessoas classificadas nessa categoria de sem-religião, ou seja,
8% da população geral.[27] E
curiosamente, o grupo dos agnósticos ou ateus não é o mais expressivo dentre os
declarantes, envolvendo respectivamente 124,4 mil (0,07%) e 615 mil (0,32%)
pessoas. Regina Novaes, em artigo esclarecedor, destacou nessa categoria uma
presença jovem, sendo a idade média em torno de 26 anos. Daí ter privilegiado
esse recorte para o desenvolvimento de seu trabalho. São jovens que “vivem
sobretudo nas cidades” embora não estejam ausentes no campo, com boa
representação no Sudeste. A autora identificou em suas pesquisas a presença,
entre os jovens, de “histórias de conversões e de desconversões, de trânsitos e
combinações no interior de suas famílias multireligiosas”. Em sua pertinente
análise, Regina reconhece que na trajetória dos jovens entrevistados pelo IBGE
existem, de fato, experiências de desfiliação ou mesmo desafeição religiosa,
mas que é problemático generalizações apressadas, pois para muitos jovens as
instituições religiosas não perdem o seu valor de locus de agregação, motivação ou afirmação de sentido. O que
ocorre, na verdade, é a redefinição de vínculos ou pertencimentos, que se
firmam de outros modos, e nem sempre “por dentro dos circuitos institucionais,
mas também fora e à margem”. Nesse sentido, “declarar-se ´sem-religião` pode
ser um ponto de partida, um interregno entre pertencimentos ou um ponto de
chegada onde se realiza sínteses pessoais combinando elementos de diferentes
tradições religiosas e esotéricas”[28].
Espíritas e afro-brasileiros
As taxas de crescimento nominal, no
Censo de 2010, também vigoraram para a declaração espírita. Houve na última
década um acréscimo vigoroso de adeptos do espiritismo kardecista, que passaram
de 1,3% em 2000 para 2,02% em 2010. São hoje cerca de 3,8 milhões de seguidores
do espiritismo no Brasil. Como mostra Bernardo Lewgoy, “o espiritismo
brasileiro passou, nas últimas décadas, por um processo de transformação, de
minoria religiosa perseguida para alternativa religiosa legítima, que oferece
explicação de sucessos, conforto para aflições e cura espiritual de
infortúnios, a partir de uma doutrina que se pretende simultaneamente
científica e religiosa”[29].
A presença espírita na sociedade brasileira não consegue
ser captada satisfatoriamente pelos dados do censo, que traduzem simplesmente
um olhar de “superfície”. Lewgoy chama a atenção para “as dinâmicas e
estratégias de mobilidade e afiliação religiosa concreta dos atores sociais”
que só com o aporte de pesquisas qualitativas, com bons recursos hermenêuticos,
conseguem ser delineadas.[30]
Ha que sublinhar, igualmente, um dado reiterado por analistas das ciências
sociais a propósito da “impregnação espírita da sociedade brasileira”. Como
mostrou Gilberto Velho, entre outros, o “transe, possessão e mediunidade são
fenômenos religiosos recorrentes na sociedade brasileira”. E não só no
espiritismo, mas também nas religiões afro, no pentecostalismo e outros grupos
religiosos. Esse autor chega a sugerir que em torno da metade da população
brasileira “participa diretamente de sistemas religiosos em que a crença nos
espíritos e na sua periódica manifestação através dos indivíduos é
característica fundamental”[31].
O sociólogo Cândido Procópio de Camargo, com base nos
Censos de 1940 a 1960, sublinhava o papel singular do “gradiente
Espiritismo-Umbanda” como “beneficiário” do processo de transição religiosa em
curso no Brasil[32].
Reginaldo Prandi lembra essa previsão de Cândido Camargo, e mostra como ela, de
fato, não se realizou. O que se destaca nos últimos Censos é um “declínio
constante” do conjunto das religiões afro, sobretudo da umbanda, mantendo-se no
reduzido patamar de 0,3% da população brasileira. Prandi reconhece que na
última década houve uma “pequena reação da umbanda”, que passou de 397.431
adeptos, em 2000, para 407.331, em 2010. Mas adverte que “o fraco crescimento
observado foi insuficiente para recuperar as perdas sofridas anteriormente”.
Trata-se de uma perda que se revela progressiva, desde o Censo de 1991, quando
a umbanda e o candomblé passaram a contar com estatísticas separadas. O mesmo
não ocorre com o candomblé, que em 2000 contava com 139 mil adeptos e ganha um
acréscimo de 28 mil adeptos em 2010, passando a 167 mil declarantes.[33]
Mas assim como ocorre no aferimento da declaração dos
espíritas, também com respeito às religiões afro-brasileiras há dificuldades
precisas de detectar a real presença da umbanda e do candomblé no Brasil. Como
indica Prandi, o Censo “sempre ofereceu números subestimados dos seguidores das
religiões afro-brasileiras, o que se deve às circunstâncias históricas nas
quais essas religiões se constituíram no Brasil e a seu caráter sincrético daí
decorrente”. Continua vigente a tendência de adeptos das religiões
afro-brasileiras camuflarem sua identidade registrando uma declaração de crença
distinta, seja na rubrica católica ou espírita[34].
Numa abordagem mais otimista sobre os rumos das religiões
afro-brasileiras, as pesquisadoras Luciana Duccini e Miriam Rabelo reconhecem
que apesar de sua reduzida expressão numérica, essas religiões “jogam um papel
importante em debates sobre formação da sociedade brasileira e na política
identitária de segmentos desta sociedade”[35].
Na análise dessas autoras, o que o Censo de 2010 revela é “uma recuperação no
crescimento dessas religiões, que até então vinham perdendo adeptos”. Se houve
um crescimento negativo entre os anos de 1991 e 2000, os dados do último Censo
revelam um “incremento de 12,5%”, sobretudo em razão do crescimento do
candomblé, que foi da ordem de 31,2%, bem como da umbanda, na ordem de 2,5%.[36]
Tradições indígenas e outras religiões
Os dados indicados pelo Censo de
2010 com respeito às tradições indígenas no Brasil revelam um crescimento com
respeito à década passada. Enquanto em 2000 os números indicavam 10.723 adeptos
de tradições indígenas, no ano de 2010 esse número passou para 63.082. Uma
importante observação feita pela pesquisadora Elizabeth Pissolato em artigo
sobre o tema, diz respeito à inadequação da utilização da categoria “raça ou
cor” para favorecer o auto-reconhecimento indígena para muitos dos adeptos que
se autodeclararam indígenas, mesmo não reconhecendo tais critérios como
indicativos dessa pertença. Isso denota um componente de “valorização cultural”
implicado na inclusão da categoria “tradições indígenas” na pesquisa censitária
a partir de 2000.[37]
Dentre outros destaques de sua interpretação vale registrar a presença
significativa de indígenas que se autodeclararam sem religião, em torno de
14,5%; bem como o crescimento daqueles que se autodeclaram evangélicos (25%).
Quanto aos que se autodeclaram católicos (51%), que é uma porcentagem alta,
houve um decréscimo na última década, já que em 2000 eram 58,9%. A autora
sublinha como um traço importante o “aumento extraordinário” ocorrido na última
década, e destacado no Censo, das declarações de indígenas em favor da
“tradições indígenas” como religião, de 1,4% dos declarantes em 2000 para cerca
de 5,3% em 2010.[38]
Com base nos dados do Censo de 2010
não há como negar a força do referencial cristão na sociedade brasileira. Mas
já se começa a perceber nele uma diversificação cada vez mais evidenciada.
Junto com essa multiformidade interna ao campo cristão, verifica-se também uma pluralização religiosa cada vez maior,
com visibilização crescente. As outras religiões, que no Censo de 2000
concentravam 1,8% da declaração geral de crença, passam agora a responder por
2,7% dessa declaração[39].
Essas outras religiosidades podem ser abordadas em quatro frentes: religiões
orientais, islamismo, judaísmo e circuito neo-esotérico.
No livro As religiões em movimento, os números relativos às religiões
orientais foram trabalhados por Frank Usarski[40].
Nessa classificação estão envolvidas a tradição budista, hinduísta, as novas
religiões orientais (igreja messiânica mundial e outras novas religiões
orientais) e as outras religiões orientais. Como assinala o autor, essas
tradições religiosas nunca alcançaram um “patamar quantitativamente
significante” no Brasil.[41]
Permanecem como “minoria religiosa” no país, envolvendo a estreita parcela de
0,22% da população brasileira[42].
Dentre essas tradições, destaca-se o budismo, com 0,13% da população brasileira[43].
Segundo Usarski, “a adesão a uma das ´religiões orientais` é um fenômeno
relativamente incomum entre brasileiros”, ainda que o cotidiano da nação seja
penetrado por símbolos e técnicas culturais provenientes do Oriente. Esse
envolvimento não vem, porém, traduzido em disponibilidade de adesão específica
a determinada religião oriental. Com respeito ao Censo de 2000, houve um
crescimento na adesão a uma das religiões orientais, expresso no aumento de
32.902 pessoas declarantes. Em termos de localização geográfica, estas
tradições religiosas estão melhor representadas no Sudeste, envolvendo 78,5%
dos budistas, 66,91% dos adeptos de uma das chamadas novas religiões orientais
e 46,4% dos seguidores das outras religiões orientais. Na avaliação de Usarski,
a sociedade brasileira, sensível à interlocução da alteridade, “oferece boas
condições para a ´evolução` das ´religiões orientais`”, embora a afirmação
dessa presença religiosa parece ainda improvável num futuro próximo, tendendo a
manter sua condição de minoria religiosa.
Quanto ao islamismo, que tem uma
pujante irradiação mundial, encontra-se
no Brasil com presença mais modesta. Há, porém, que destacar o seu crescimento
no país entre os dois últimos censos. No Censo de 2000, o número de declarantes
muçulmanos foi de 18.592, passando para 35.167 no Censo de 2010. Trata-se de um
crescimento considerável, mas que no quadro geral da população brasileira
representa apenas 0,02%. A análise destes dados foi trabalhada por Paulo
Gabriel Hilu da Rocha Pinto[44].
O autor sublinha que os dados apresentados pelo Censo não coincidem com os
índices apresentados pelas instituições islâmicas presentes no Brasil ou suas
lideranças, que indicam um número bem maior, estimado entre 1 a 3 milhões de
adeptos. O que se observa, na verdade, indica o autor, é um real crescimento
das instituições islâmicas no país, que chegam a quase 100 em 2012, com maior
concentração nas regiões Sul e Sudeste. O islamismo no Brasil tem um traço bem
urbano e um índice importante de presença masculina, com presença mais
destacada em São Paulo (42% dos muçulmanos declarados) e Paraná (27%).
Registra-se ainda outro dado importante, que é o aumento do número de
conversões de brasileiros ao islã[45].
O tema do judaísmo foi desenvolvido por Monica Grin e
Michel Gherman. Os dados apontados pelo Censo indicam a presença de 107 mil
adeptos desta tradição religiosa[46],
com um leve aumento com respeito a 2000, quando estavam representados por 101
mil seguidores. Os autores destacam a complexidade da identidade judaica, que
não se esgota nos limites da religião, indicando que aqueles que se declaram
judeus ao responderem ao censo não são “necessariamente ´praticantes do
judaísmo`”. Sublinham que o traço característico do judaísmo no Brasil é a sua
diversificação plural, abarcando desde o judaísmo ortodoxo, que vem aos poucos
se consolidando, até comunidades mais inovadoras, influenciadas por práticas da
New Age. Trata-se de um judaísmo “mais multifacetado em suas manifestações do
que apenas uma religião monoteísta e de fronteiras tradicionalmente fechadas à
conversão de não-judeus”[47]. A comunidade judaica no Brasil, que se
destaca dentre as outras comunidades desta tradição nas américas do sul e central,
concentra-se sobretudo nos grandes centros urbanos.
O Censo de 2010 sinalizou também a presença das tradições
esotéricas no Brasil, com um registro minguado de 0,04 de declaração de crença,
mantendo o mesmo patamar indicado no Censo de 2000, com um aumento reduzido: de
67 mil declarantes em 2000 para 74 mil em 2010. A abordagem desse circuito
neo-esotérico foi desenvolvida por Leila Amaral[48].
A autora mostra com pertinência a tendência hoje em curso para o aumento de
disponibilidade dos indivíduos para a “experimentação religiosa, para além de
seus limites institucionais”. Como parte dessa cultura religiosa errante,
inserem-se aqueles que emigraram das religiões institucionais, aqueles de
religiosidade não determinada ou núcleos daqueles que foram classificados entre
os sem religião. Na visão de Leila Amaral, o número reduzido de declarações
nesse campo tem também a ver com o fato de que as pessoas que se inserem no
circuito neo-esotérico não se definem ou se reconhecem nessa rubrica. Ou seja,
a classificação escolhida pelo IBGE para situar esse “circuito” religioso não
dá conta de captar com precisão o fenômeno desses “buscadores da nova era”. Em
tentativa de explicação, a autora arrisca-se a dizer que os adeptos desse
circuito, com base nas pesquisas acadêmicas e qualitativas, estariam
“pulverizados por entre as diversas categorias identificadas no Censo de 2010”. [49]
Para além de sua inserção no campo definido das tradições esotéricas, estariam
também presentes entre os espiritualistas[50],
os sem religião, e também entre aqueles situados nas tradições religiosas
tradicionais, como as cristãs, e no catolicismo em particular. O traço peculiar
dessa “cultura religiosa errante” é a experimentação e o trânsito. O que há
nela de central “é a suspensão dos comprometimentos identitários que possam se
apresentar como um obstáculo para a experimentação de sentido”.[51]
(Publicado
na Revista Convergência (CRB), n. 483 – Julho/Agosto 2015, p. 533-544)
[1] Livro publicado pela editora Vozes, em 2013.
[2] Pierre Sanchis. Prefácio. In: Faustino Teixeira &
Renata Menezes. Religiões em movimento.
O Censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 11-16.
[3] Ibidem, p. 16.
[4] Clara Mafra. O que os homens e as mulheres podem
fazer com números que fazem coisas. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes.
Religiões em movimento, p. 40.
[5] Renata Menezes. Censo 2010, fotografia panorâmica da
vida nacional. Cadernos IHU em formação,
ano VIII, n. 43, 2012, p. 42. Ver também: Id. Às margens do Censo de 2010:
expectativas, repercussões, limites e usos dos dados de religião. In: Faustino
Teixeira & Renata Menezes. Religiões
em movimento. O Censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013, p. 329-346.
[6] Silvia Regina Alves Fernandes. Os números de
católicos no Brasil – mobilidades, experimentação e propostas não redutivistas
na análise do censo. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 112.
[7] Walter Altmann. Censo IBGE 2010 e religião. Horizonte, v. 10, n. 28, out./dez. 2012,
p. 1126; Reginaldo Prandi. As religiões afro-brasileiras em ascensão e
declínio. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento. O Censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013,
p. 203-218.
[8] Renata Menezes. Censo 2010, fotografia panorâmica da
vida nacional, p. 44. Ver também: Jose
Ivo Folmann. Trânsito religioso e o “permanente peregrinar”. Cadernos IHU em formação, ano VIII, n.
43, 2012, p. 14.
[9] Leonildo Silveira Campos. “Evangélicos de missão” em
declínio no Brasil: exercícios de demografia religiosa à margem do Censo de
2010; Bernardo Lewgoy. A contagem do
rebanho e a magia dos números: notas sobre o espiritismo no Censo de 2010;
Ronaldo de Almeida & Rogério Barbosa. Transmissão religiosa nos domicílios
brasileiros. Todos esses artigos publicados no livro: Religiões em Movimento, e as referências citadas estão
respectivamente nas p. 129-130; 194-195 e 311-312.
[10] Renata Menezes. Censo 2010, fotografia panorâmica da
vida nacional, p. 42.
[11] Como mostrou Silvia Fernandes, os dados do IBGE
indicam “que a população católica cresce a um ritmo sempre inferior ao
crescimento populacional em cada região brasileira, ao contrário do conjunto de
evangélicos que possui crescimento sempre acima da população”: Sílvia Regina
Alves Fernandes. Os números de católicos no Brasil, p. 115. Ver também: Marcelo
Camurça. O Brasil religioso que emerge do Censo 2010: consolidações, tendências
e perplexidades. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 63-64.
[12] Ronaldo de Almeida & Rogério Barbosa. Transmissão
religiosa nos domicílios brasileiros, p. 314-315.
[13] Antônio Flávio Pierucci. O crescimento da liberdade
religiosa e o declínio da religião tradicional: a propósito do Censo de 2010.
In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões
em movimento, p. 58. É o país, com a
maior presença de católicos em âmbito mundial, seguido pelo México, Filipinas e
Estados Unidos.
[14] Leonildo Silveira Campos. “Evangélico de missão” em
declínio no Brasil: exercícios de demografia religiosa à margem do Censo de
2010. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 155-156. Isso também já tinha sido
apontado por Antônio Flávio Pierucci: Cadê nossa diversidade religiosa? In:
Faustino Teixeira & Renata Menezes. As
religiões no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 50.
[15] Carlos Rodrigues Brandão. Catolicismo. Catolicismos?
In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões
em movimento, p. 92. Essa
categoria “transformação” é chave para entender não só o campo católico, mas
todo o campo religioso mais amplo. Pierre Sanchis acentuou a sua importância
para entender e explicar o “advento, desta vez inegável, da pluralidade
religiosa” no Brasil: Pierre Sanchis. Pluralismo, transformação, emergência do
indivíduo e suas escolhas. IHU em
formação. Ano VIII, n. 43, 2012, p. 37.
[16] Cecília Mariz. As igrejas penteconstais no Censo de
2010. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 161. Em âmbito mundial, é o quarto país
com a maior presença de evangélicos (protestantes) no mundo, depois dos Estados
Unidos, Nigéria e China.
[17] Como indicam Mariz e Gracino Jr., levando-se em conta
as últimas três décadas, o crescimento evangélico foi de aproximadamente 540%:
de 7.886 milhões em 1980 para 42.275 milhões em 2010. Cf. As igrejas
penteconstais..., p. 161.
[18] Houve, na verdade, um pequeno decréscimo dos
evangélicos de missão na última década, que passaram de 4,1% para 4% dos
declarantes, ou seja, uma queda de 7.686.827 milhões de adeptos.
[19] Marcelo Camurça enfatiza a vitalidade dos pentecostais,
e em particular da Assembleia de Deus, no sentido de “acompanhar a capilaridade
da geografia social e a mobilidade e o trânsito de populações para lugares mais
recônditos e inalcançáveis do país, através de organismos ágeis, múltiplos e
funcionais”: Marcelo Ayres Camurça. O Brasil religioso que emerge do Censo
2010: consolidações, tendências e perplexidades, p. 78-79.
[20] Leonildo Silveira Campos. “Evangélicos de missão” em
declínio no Brasil, p. 147. No caso do catolicismo ocorreu o contrário, com uma
sangria diária na ordem de 465 adeptos por dia na última década. Daí se dizer,
com acerto, que o catolicismo é um “doador universal”, o “principal celeiro” da
arregimentação de adeptos pelos outros credos ou pelos sem religião: Paula
Montero & Ronaldo de Almeida. O campo religioso brasileiro no limiar do
século. In: Henrique Rattner (Org.). Brasil
no limiar do século XXI. São Paulo: Fapesp/Edusp, 2000, p. 330.
[21] Paulo Ayres Mattos. A relevante queda de crescimento
evangélico revelado pelo Censo de 2010. Cadernos
IHU em formação, Ano VIII, n. 43, 2002, p. 30.
[22] Mas mesmo com esse incremento, houve um recuo no peso
percentual com respeito ao grupo evangélico, como assinalaram Mariz e Gracino
Jr, “passando de 68,65% em 2000 para 60,01% no último censo”: As igrejas
pentecostais no Censo de 2010, p. 168.
[23] Cecília Mariz & Paulo Gracino Jr. As igrejas pentecostais
e o Censo de 2010, p. 163-165. Segundo
Ricardo Mariano, em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, em
30/06/2012, “o inchaço da categoria ´evangélica não determinada` reduziu
artificialmente o crescimento pentecostal” (Em marcha, a transformação de
demografia religiosa do país ).
[24] Walter Altmann. Censo IBGE 2010 e religião, p. 1128.
[25] Antônio Flávio Pierucci. “Bye bye, Brasil” – o
declínio das religiões tradicionais no Censo de 2000. Estudos Avançados USP, v. 18, n. 52, setembro/dezembro 2004, p. 19.
[26] Dentre os analistas que buscaram classificar os sem-religião
cf. Sílvia Fernandes. “A (re)construção da identidade religiosa inclui dupla ou
tripla pertença. Cadernos IHU em formação,
ano VIII, n. 43, 2012, p. 24. E também Denise dos Santos Rodrigues. Os sem
religião nos censos brasileiros: sinal de uma crise do pertencimento
institucional. Horizonte, v. 10, n.
28, out./dez. 2012, p. 1137.
[27] É curioso constatar o crescimento dos sem religião
(também chamados de não afiliados) em
âmbito mundial: eles abrangem cerca de 16,3% da população mundial, em torno de
1,1 bilhão de adeptos. Sua presença é mais forte na China, Japão e Estados
Unidos.
[28] Regina Novaes. Jovens “sem religião”: sinais de
outros tempos. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 175-190 (a citação está na p. 189).
[29] Bernardo Lewgoy. A contagem do rebanho e a magia dos
números: notas sobre o espiritismo no Censo de 2010. In: Faustino Teixeira
& Renata Menezes. Religiões em
movimento, p. 199.
[30] Ibidem, p. 200.
[31] Gilberto Velho. Projeto
e metamorfose. Antropologia das sociedades complexas. 3 ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2003, p. 53-54. Ver também: Pierre Sanchis. O repto pentecostal à
´cultura católico-brasileira”. In: Alberto Antoniazzi et al. Nem anjos nem demônios. Interpretações
sociológicas do pentecostalismo. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 37; José Jorge de
Carvalho. Características do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. In:
Maria Clara L. Bingemer (Org). O impacto
da modernidade sobre a religião. São Paulo: Loyola, 1992, p. 146.
[32] Cândido Procópio F. de Camargo. Católicos, protestantes, espíritas. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 24.
[33] Reginaldo Prandi. As religiões afro-brasileiras no
Censo de 2010, p. 208.
[34] Ibidem, p. 204. Ver também: José Ivo Folmann.
Trânsito religioso e o ´permanente peregrinar`. Cadernos IHU em formação, Ano VIII, n. 43, 2012, p. 14. E
igualmente o singular livro de Denise Pini Rosalem da Fonseca & Sonia Maria
Giacomini. Presença do Axé. Mapeando
terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio/Pallas, 2013. As
autores trazem dados bem interessantes a respeito da presença de “Casas de Axé”
em nove regiões do Estado do Rio de Janeiro (847 casas pesquisadas).
[35] Luciana Duccini & Miriam C.M. Rabelo. As
religiões afro-brasileiras no Censo de 2010. In: Faustino Teixeira & Renata
Menezes. Religiões em movimento, p.
219.
[36] Ibidem, p. 220.
[37] Elizabeth Pissolato. “Tradições indígenas” nos censos
brasileiros: questões em torno do reconhecimento indígena e da relação entre
indígena e religião. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 240.
[38] Ibidem, p. 242.
[39] IBGE. Censo demográfico
2010. Características gerais da população, religião e pessoas com
deficiência. IBGE: 2012, p. 92. Há que sublinhar também os dados relativos à
declaração de múltipla religiosidade no Censo de 2010, envolvendo 15.379
pessoas, ou seja, 0,01%. Já os dados relacionados às religiões não determinadas
ou mal definidas, envolvem 628.219 pessoas, ou seja, 0,33%.
[40] Frank Usarski. As “religiões orientais” segundo o
censo nacional de 2010. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 253-265.
[41] Ibidem, p. 253.
[42] De forma pormenorizada: budismo (243.966 – 0,13% ),
hinduísmo (5.675 – 0,003%% ), igreja messiânica mundial (103.716 – 0,05%),
outras novas religiões mundiais (52.235 – 0,03%) e outras religiões orientais
(9.675 – 0,005% )
[43] Com respeito ao Censo de 2000, houve um acréscimo de
29.093 adeptos.
[44] Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto. Islã em números:
os muçulmanos no Censo Demográfico de 2010. In: Faustino Teixeira & Renata
Menezes. Religiões em movimento, p.
267-282.
[45] Conversões que tiveram um extraordinário crescimento
após 2001, em sintonia com a maior visibilidade alcançada pelo islã na
sociedade brasileira, em razão de diversos fatores, entre os quais a novela O
Clone. E isso pode ser visto, em diferentes proporções, sobretudo nas
comunidades muçulmanas do Sudeste. Cf. Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto. Islã: religião e civilização. Uma
abordagem antropológica. Aparecida: Santuário, 2010, p. 195-219.
[46] O que representa 0,06% da população geral.
[47] Monica Grinn & Michel Gherman. Judaísmo e o Censo
de 2010. In: Faustino Teixeira & Renata Menezes. Religiões em movimento, p. 283-294 (a citação está na p. 284).
[48] Leila Amaral. Cultura religiosa errante. O que o
Censo de 2010 pode nos dizer além dos dados. In: Faustino Teixeira & Renata
Menezes. Religiões em movimento, p.
295-310.
[49] Ibidem, p. 303-304.
[50] Houve um crescimento na declaração de crença
espiritualista na última década: de 39.840 declarantes em 2000 para 61.739
declarantes em 2010, e agora representam 0,03% da população geral.