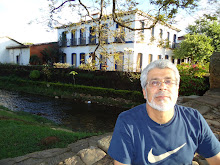Apresentação
Faustino Teixeira
PPCIR-UFJF
A Imitação de Cristo é uma das obras mais difundidas da espiritualidade cristã, e sua popularidade é impressionante, só sendo ultrapassada pela Bíblia. É o livro que vem alimentando o mundo cristão desde muitos séculos, enquanto expressão da devoção moderna. Embora seja motivo de discussão, a autoria da obra vem atribuída a Tomás de Kempis (1380-1471), cuja formação aconteceu no âmbito da tradição agostiniana.
É importante ressaltar o contexto histórico-cultural que antecedeu a gestação dessa obra de piedade. Como sinalizam os grandes historiadores que se debruçam sobre a Idade Média, grandes medos povoaram os povos medievais, como o medo da miséria, do além, do outro, da violência e das catástrofes[1]. Georges Duby sublinha o exemplo da peste negra, que dizimou entre junho e setembro de 1348, um terço da população européia, com gigantescas conseqüências sociais e psicológicas. Vale também lembrar outras catástrofes como a queda de Constantinopla (1453) e o grande cisma do Ocidente (1378-1417). As repercussões foram grandes no campo cultural-religioso. A questão da morte dominava as consciências, e junto a ela a consciência da impotência da condição humana. Como desembaraçar-se de sua terrível situação sem a ajuda de Deus?
A resposta a muitos desses traumas e desafios veio com a busca da interioridade. A Imitação de Cristo expressa um desses caminhos trilhados. A obra veio gestada no âmbito da devotio moderna e sua poderosa exigência em favor da interioridade[2]. O movimento da devoção moderna tem seu início no século XIV, com base nos Paises Baixos, tendo seu apogeu no século XV. Entre seus traços fundamentais estavam a purificação da alma e a exaltação das virtudes. Em contraste com as formas penitenciais tradicionais, o movimento ressaltava a tônica afetiva da espiritualidade, com forte toque anti-intelectual e anti-escolástico.
Tomás de Kempis era um dos autores decisivos dessa nova espiritualidade, apontando com sua reflexão o caminho da interioridade. É por meio da Imitação de Cristo que a espiritualidade moderna ganha seu florescimento, com decisivos traços psicológicos, preocupada sobretudo em discernir os movimentos da alma que busca seguir a Jesus Cristo. Há que sublinhar a herança agostiniana desse movimento em direção à interioridade, pois foi Agostinho quem lança as bases de uma tradição ocidental específica da interioridade ou da subjetividade[3], do cultivo de um espaço interior resguardado para se buscar a Deus: “Em seguida aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração, conduzido por Vós” (Confissões VII, 10,16).
Segundo Johan Huizinga, a Imitação de Cristo é a obra que traduz duradouramente a “mais frutuosa expressão” da alma da Idade Média[4], alicerçando também todas as formas de vida consagrada desenvolvidas no Renascimento. A obra traduz uma específica pedagogia religiosa, sinalizada pelo caminho da vida interior. Como Tomás de Kempis sublinha em passagem do livro 3: “Bem aventurados os olhos que estão fechados para as coisas exteriores e abertos para as interiores” (IC III, 1,1). Trata-se de uma pedagogia que privilegia a “pietas pessoal”, com acentuado traço cristocêntrico. Há um predomínio da intenção mística sobre a perspectiva ascética ou moral. O que a obra revela é um convite ao diálogo interior com Jesus, que é percebido como a fonte secreta de onde brota a vida divina[5]. O tema do seguimento de Jesus é um dado característico da espiritualidade medieval, particularmente presente na obra de Tomás de Kempis.
A obra vem dividida em quatro livros. Nos primeiros três livros aborda-se o projeto espiritual da conformação da alma a Jesus Cristo, seguindo a linha das três vias tradicionais da caminhada espiritual: a via purgativa, iluminativa e unitiva[6]. O estilo da obra é bem característico: são “coletâneas de sentenças facilmente memorizáveis por seu ritmo”, e isso explica também a sedução que a acompanha. No Livro Primeiro acentua-se a centralidade da “imitação de Cristo” e a exemplaridade da vida virtuosa. Destaca-se, em particular, os valores da humildade, da paciência, do recolhimento em si mesmo e da vida de oração. Já se prenuncia uma certa exaltação da fuga do mundo, que é traço característico da piedade apresentada na obra: “Considera-te hóspede e peregrino neste mundo, como se nada tivesses com os negócios da terra” (IC I, 23,9). No Livro Segundo vem reforçada a piedade cristocêntrica, com os desdobramentos de suas virtudes essenciais, como a simplicidade, a pureza e a retidão do coração. A perspectiva bíblica cobre toda a obra, com mais de 1.500 citações, muitas delas implícitas. O Livro Terceiro, desenvolvido em forma de colóquio íntimo da alma com Deus, trata especificamente dos temas relacionados à via unitiva. A união com Deus é a porta de entrada para o consolo, o sossego, a paz e a alegria: “Só em Deus há que se buscar a verdadeira consolação” (IC III, 16,1); “Quando estais presente, tudo é aprazível, mas, se vos ausentais, tudo enfastia” (IC III, 34, 1). O Livro Quarto trata da devoção à eucaristia e da dignidade do estado sacerdotal.
A espiritualidade presente na obra Imitação de Cristo é a expressão de uma época, tendo iluminado a dinâmica litúrgica de um tempo que sofreu inúmeras modificações[7]. Causa certa perturbação ao olhar contemporâneo certos traços presentes nesta espiritualidade, como a oposição entre natureza e graça, a exaltação da fuga do mundo, a superioridade da vida monástica e certa perspectiva pietista intimista, que corroborou para problemático divórcio entre teologia e espiritualidade[8]. Isto deve ser compreendido no seu contexto, e não contraria outros valores presentes na obra como o incentivo dado à vida virtuosa e a centralidade do amor e da caridade na dinâmica da vida cristã.
(Apresentação do livro: Tomás de Kempis. A imitação de Cristo. Petrópolis: Vozes, 2009)
[1] Georges DUBY. Ano 1000 ano 2000. Na pista de nossos medos. São Paulo: Unesp, 1998.
[2] E.G. FARUGIA. Devotio moderna. In: L. BORRIELLO et al. Dizionario de mistica. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 406-407.
[3] Philip CARRY. Intériorité. In: Allan D. Fitzgerald (Ed.). Encyclopédie Saint Augustin. Paris: Cerf, 2005, pp. 782-783.
[4] Johan HUIZINGA. O declínio da Idade Média. Braga: Ulisseia, 1996, p. 233.
[5] John BRECK. Imitação de Jesus Cristo. In: Jean-Yves LACOSTE (Ed.). Dicionário critico de teologia. São Paulo: Paulinas/Loyola, 2004, p. 878.
[6] Marco VANNINI. Il volto del Dio nascosto. Milano: Mondadori, 1999, pp. 219-220.
[7] Há que sublinhar que nesta edição brasileira buscou-se conservar ao final de cada capítulo uma série de reflexões e orações, bem como orações diversas, salmos e devocionário, ao final da obra, constantes na edição francesa. Isso foi realizado no intuito de conservar uma memória, ainda que o seu conteúdo devocional seja próprio de uma época anterior ao Vaticano II.
[8] G.DUMEIGE. História da espiritualidade. In. Stefano de FIORES & Tullo GOFFI (Eds). Dicionário de espiritualidade. São Paulo: Paulinas, 1989, p. 502.