“Onde está o teu irmão?” O desafio do cuidado com os idosos
Entrevista com Faustino Teixeira
Instituto Humanitas da Unisinos (IHU)
Desde quando os temas do envelhecimento e da morte se tornaram questões reflexivas na sua vida?
O interesse pelo tema da morte me acompanha desde muito cedo. Perdi um irmão quando eu tinha 13 anos. Foi uma morte sofrida, de Leucemia. Um jovem atleta, campeão de natação, com estilo de vida e alimentação bem controlados. Apesar disso, a doença veio impiedosa e ceifou sua vida no auge de sua juventude. Éramos muito ligados. Durante sua doença estive sempre por perto, e ele apreciava muito a minha presença. Depois de sua morte, o tema pairou na minha vida, motivando o meu interesse.
Na juventude, os filmes de Ingmar Bergman vieram complementar essa minha atenção às questões relacionadas à finitude. Sempre fui um apaixonado pelo diretor sueco, que aborda com precisão os grandes temas de fronteira, como a morte, o sofrimento, a solidão e a dor.
Durante o curso de filosofia, ocorreu um singular interesse por Heidegger e as questões relacionadas com a morte. Foi a tomada de consciência viva de que já estamos começando a morrer assim que nascemos. Acrescento também o influxo do biólogo Jacques Monod, com seu livro O acaso e a necessidade. Com ele a consciência de que tudo que nos rodeia vive sob o dramático imperativo da entropia. Tudo que existe no tempo, vai aos poucos perdendo sua vitalidade e fenece. Havia ainda o meu interesse pelo Zen Budismo
A questão da morte se fez mais presente para mim desde 2005, quando esbarrei com um doença complicada que acabou evoluindo para uma mielofibrose (câncer no sangue). Foram anos de tratamento delicado, com repercussões duras sobre o corpo. Em todo o tempo da doença, a espiritualidade foi minha companheira de quarto e de vida. Foi o grande élan que me proporcionou a resiliência necessária para lidar com a adversidade.
Em 2020 passei por um transplante de medula, e foi mais uma passagem que provocou pontuais reflexões sobre a morte e o morrer. O pós-transplante não foi tão simples, e tive complicações de saúde dolorosas, mas consegui superar, com a presença de minha esposa e a preciosa ajuda de um profissional de saúde maravilhoso, com sua equipe exemplar. Trata-se do dr. Angelo Atalla. Com ele tive também conversas muito bonitas e duras sobre o tema da morte.
Durante o transplante e o pós transplante, uma das leituras mais presentes foi a de Rainer Maria Rilke, a quem dediquei um capítulo em livro sobre a mística cristã. Rilke foi um companheiro fiel nessa minha dura travessia. Com ele me dei conta, de forma ainda mais intensa, de que a nossa vida é frágil e miúda, diante de tanta complexidade.
É cirúrgica a sua reflexão sobre a nossa presença num tempo marcado pela contingência. Ele diz na segunda elegia de Duíno, que “o que é nosso flutua e desaparece”[1]. Se as árvores e casas que habitamos, resistem, “nós passamos”. Não estamos protegidos dessas marcas do tempo, e não há nada que impeça o nosso envelhecimento. Também não conseguimos viver nenhuma experiência que possibilite uma “duração pura” ou promessa de eternidade. O que há, fatalmente, é uma “inquietante fluidez”.
Rilke adverte-nos com precisão que a temporalidade corrói, sem piedade, todos os nossos esforços “de realização e plenitude ontológicas”. Ao comentar esta segunda elegia, Dora Ferreira da Silva sublinha: “A beleza, os gestos de fervor, os impulsos do coração, os momentos de êxtase e comunhão, tudo isso que é nosso ´flutua e desaparece`”[2]. No itinerário que se seguiu veio igualmente o impacto e força do livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas. Foi um contraponto bonito na minha reflexão, impulsionando-me para a dinâmica da alegria e da coragem.
Em 2025 vinculei-me a um projeto que envolve a reflexão sobre o envelhecer, sob a coordenação da doutora Ana Claudia Quintana Arantes, especializada em cuidados paliativos. Tem sido uma experiência rica de aprendizado e partilhas. O meu projeto é escrever em breve um livro sobre o tema.
Segundo os dados do último censo, o número de idosos no Brasil cresceu 57,4% em 12 anos. Como a sociedade brasileira tem lidado com os idosos? Quais são as carências no país para lidar com o envelhecimento da população?
Estamos diante de uma questão extremamente delicada e urgente: como lidar com o envelhecimento no Brasil. Com o avanço da medicina e dos recursos para o tratamento das doenças, as pessoas vivem mais. A questão do envelhecimento passa a ganhar urgência, desafiando a reflexão e as práticas de saúde. Não estamos, porém, devidamente preparados para lidar com isso.
Há ainda muito preconceito com o etarismo. Os velhos não são aceitos pela sociedade pois não estão mais na cadeia de produção e nem traduzem a sua presença na sociedade como algo que lucra. O velho é simplesmente descartado, também por sua família, com lindas exceções.
No recente filme, A substância, da diretora francesa Coralie Faregeat, o tema do etarismo e da indústria frenética da beleza estão muito presentes. Vivemos numa sociedade que não se dá bem com o avançar da idade, nem está instrumentada para lidar com esta delicada questão. Como diz Ana Claudia Quintana, “a vida é uma condição sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e, em 100% dos casos, termina em morte”[3].
Tenho uma severa preocupação com nossa realidade brasileira, sobretudo diante de dificuldades precisas que observo com a forma rotineira de lidar aqui em nosso país com as doenças e a precariedade dos serviços de saúde. A sorte é que temos o SUS, que é das coisas mais preciosas para garantir um futuro menos sombrio, mas ele está sempre sendo ameaçado sob o peso de muitas críticas.
Preocupa-me o gasto com a saúde, o preço impossível de medicamentos para certas doenças e as resistências dos planos de saúde para cobrir os gastos com certos medicamentos ou procedimentos. Tudo tem que ser judicializado... E no horizonte do envelhecer, a ameaça dura de uma morte sofrida.
Com base ainda na reflexão de Ana Claudia Quintana, em pesquisa divulgada por ela, o Brasil ficou em “3º lugar como pior país do mundo para ser morrer”[4]. O acesso dos idosos aos cuidados paliativos, quando diante de situações delicadas de saúde, é ainda irrisório. Enquanto os Estados Unidos possuem 4 mil serviços nessa linha, o Brasil conta apenas com cerca de 180.
No Brasil, apenas 0,3% da população tem acesso aos cuidados paliativos. Para os que vivem uma situação derradeira, e que têm condições financeiras ou conseguem apoio, fazem sua travessia com o recurso da distanásia, ou seja, o prolongamento de sua vida – de sua dor – através de intervenção diagnóstica que utiliza recursos indefinidos para manter a pessoa viva[5]. Em verdade, o que a distanásia promove é “o prolongamento ou o aprofundamento da experiência de sofrimento”. É, em geral, um recurso defendido por grande parte dos médicos e dos familiares dos doentes. Na prática, porém, a maioria da população brasileira morre mesmo é em razão da mistanásia, ou seja, “a total ausência de cuidados”[6].
Nos últimos anos começa a ocorrer no país um movimento importante em defesa da dignidade do morrer, do respeito pelo tempo da morte. São profissionais que defendem de forma firme e profissionalmente competente o direito das pessoas viverem o tempo de sua maior fragilidade com dignidade. Trata-se da defesa da ortotanásia, ou seja, “o respeito pelo tempo da morte”[7].
A situação dos idosos vem ainda mais prejudicada em razão dos casos de demência, quando os indivíduos se vêem desconectados da realidade. Como mostra Ana Claudia Quintana,
“a demência é o nome que se dá a uma síndrome causada por várias doenças de curso lento e progressivo que comprometem a memória, o pensamento, o raciocínio, a orientação, a compreensão, a capacidade de aprendizagem, a linguagem, o julgamento, o comportamento e a capacidade de executar atividades cotidianas”[8].
O traço da demência já começa a ocorrer antes mesmo de 65 anos entre 2% e 10% das pessoas idosas. Estatísticas confiáveis indicam a probabilidade de que em meados de 2050 teremos 131,5 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de Alzheimer, uma doença que não tem cura e que constitui o maior valor de risco para os idosos. Como diz Ana, “se você quiser chegar aos 90 anos, saiba que a probabilidade de desenvolver a doença é como jogar par ou impar”[9].
Estamos todos envolvidos no desafio de lidar com o envelhecimento. Em sua obra A solidão dos moribundos, Norbert Elias abre a reflexão dizendo que todos teremos que lidar com o fato de que as pessoas que estão no circuito de nosso amor, um dia vão morrer, e não é fácil para ninguém identificar-se com esse dado da finitude. Dentre os diversos problemas de nossa época, um dos mais gerais – diz o sociólogo -, tem a ver com a nossa dificuldade “de dar aos moribundos a ajuda e afeição de que mais que nunca precisam quando se despedem dos outros homens”[10].
Por que, para muitos idosos, o envelhecimento é acompanhado de sofrimento, solidão, depressão e até casos de suicídio? Como mudar essa realidade?
Sem dúvida, a velhice é um tempo onde muitos experimentam solidão e sofrimento. Não é um tempo fácil para ninguém. É quando a pessoa experimenta um momento diverso na vida, muitas vezes marcado pelo distanciamento dos filhos, que firmam suas vidas sob outros parâmetros. É um momento em que começam a surgir as marcas da contingência e dos limites. É quando os caminhos do cuidado e da atenção se tornam fundamentais e necessários. Há que buscar caminhos novidadeiros para lidar com o momento particular vivido pelos idosos, e também estar atentos para detectar os traços de depressão que podem envolver os que passam por essa realidade.
Ana Claudia Quintana nos adverte que a taxa de suicídio entre os idosos no Brasil é superior à taxa verificada entre a população geral, com uma média de 7,8 casos a cada 100.000 habitantes. Isso é sério! E essa taxa eleva-se ainda mais entre aqueles que ultrapassaram os 80 anos de idade. Há que criar mecanismos de amparo, atenção e generosidade para os que chegam a tal idade, bem como garantir espaços especiais para o seu entretenimento. É plenamente possível alcançar uma “bela velhice”, que pode ocorrer quando ela vem inserida com sentido num “projeto de vida”[11].
O bom envelhecimento requer a manutenção de um estado particular de espiritualidade e de salvaguarda do ânimo. Em suas pesquisas sobre o tema, a antropóloga Mirian Goldenberg sublinha que uma das condições necessárias para uma velhice saudável é manter sempre aceso o bom humor e evitar que os percalços da vida prejudiquem o traço da alegria[12]. O tempo do envelhecimento não pode ser reduzido ao índice de danos que o acompanha. É possível, sim, reconhecer e destacar também os ganhos, como mostrou Lya Luft. Mesmo diante de perdas fundamentais, como a de um grande amor, é possível encontrar caminhos de ressurgência: “Aprender a perder a pessoa amada é afinal aprender a ganhar-se a si mesmo, e ganhar, de outra forma – realmente assumindo -, todo o bem que ela representava”. A morte, diz Lya Luft,
“é a grande personagem , o olho que nos contempla sem dormir, mas pode nos revelar muitos segredos. O maior deles há de ser: a morte torna a vida tão importante! Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje ... devíamos tentar ser felizes hoje (...). Somos mais que o corpo e ansiedade, somos mistério, o que nos torna maiores do que pensamos ser – maiores do que os nossos medos”[13].
Uma nova mentalidade em relação aos idosos depende de que tipo de transformação? Cultural, espiritual, política, social?
Sem dúvida, uma nova mentalidade com respeito aos idosos exige muitas transformações, que envolvem todos esses aspectos. Penso que, sobretudo, há que romper com essa visão negativa do etarismo, e dar um passo adiante no devido respeito para com os idosos, que são portadores de nossa memória e merecem ser reconhecidos em sua dignidade. Quebrar essa atmosfera de mercado, onde o velho é simplesmente descartado. Há que provocar toda uma nova reflexão sobre o tema, que envolva um diálogo multidisciplinar. Há que encontrar canais plausíveis e justos para o devido cuidado e atenção com a saúde dos idosos, com atendimento e procedimentos adequados para o seu equilíbrio corporal e psíquico.
Qual é situação dos asilos e casas de repouso no país? A escolha por esses ambientes cresce entre as famílias? Sim, não? A que atribui esse fenômeno?
Esta é uma questão particular que vem me preocupando muito. Como já mostrou Simone de Beauvoir, a alocação de um idoso para um asilo é sempre algo muito delicado, resultando quase sempre num “drama” para o velho. Ela relata, já na ocasião, sobre o grande aumento de casas de repouso nos EUA e na França para as pessoas idosas que dispõem de recursos para pagar, e para “cuidados que frequentemente deixam muito a desejar”[14]. As estatísticas que ela apresenta em seu livro sobre a velhice são duras: mais da metade dos velhos que são levados para asilos morrem no primeiro ano de sua admissão: 8% morrem nos oito primeiro dias, 28,7% morrem no primeiro mês, 45% morrem nos seis primeiros meses e 54,4% morrem no primeiro ano.[15]. Além disso, os velhos vivem momentos de muita solidão nesses lugares, com visitas reduzidas dos parentes ou amigos, ou mesmo sem visita alguma.
Em recente filme francês, Une belle course (2022), de Christian Carion, o tema da ida para uma “casa de repouso” é o objeto central da trama, e podemos acompanhar o drama de uma senhora de 92 anos que vai para uma dessas casas, e ali dura pouco tempo.
Há uma preocupação com o tema na sociedade como um todo, e isto vem igualmente retratado no cinema e na literatura. Cito aqui o exemplo do livro de Annie Ernaux, Uma mulher[16], onde ela relata a experiência de sua mãe numa residência para idosos. A escritora descreve certo cenário presente naquela casa: “Era um espaço que encurtava todos os gestos, onde aliás não havia nada para fazer além de ficar sentado, ver televisão, esperar a hora de jantar”[17]. Ernaux relata que a cada visita que fazia à sua mãe, a angústia era maior.
A questão vem abordada também pelo escritor J.M. Coetze, no livro Contos morais, onde num dos capítulos o tema da internação num asilo para velhos vem por ele desenvolvido. O filho que interna a mãe na residência de idosos, está buscando simplesmente “arranjos de sobrevivência”. E diz a ela, com todas as letras, que se não estivesse ali, sob a proteção de profissionais, estaria, provavelmente “debaixo da terra, sendo devorada pelos vermes”[18]. Ele reconhece, em conversa com a mãe, que resiste à decisão tomada, mas que há um momento na vida em que é preciso encontrar um meio-termo entre aquilo que se deseja é aquilo que aparece como algo de bom para a situação dada.
Um relato bastante duro da vida num asilo para velhos vem tecido pelo filósofo e sociólogo francês, Didier Eribon, no livro: Vida, velhice e morte de uma mulher do povo[19]. Ele busca abordar, com fria racionalidade, o processo de internação de sua mãe numa casa de repouso na França. Tenta apontar para o leitor toda a dinâmica do choque que acompanhou o seu desenraizamento ao ser alocada num asilo. Para o autor, o baque maior foi aquele de perder a autonomia e liberdade. Eribon sublinha que nas conversas com sua mãe pôde se dar conta de que “a idade e a debilidade física são na verdade ´correntes`, ´prisões` que reduzem a nada o que poderia restar da força para escapar minimamente ao destino: vontade, sim, poder, não”[20].
Em seu livro, Eribon lembra do romance de Shichirô Fukazawa, Narayama, que se passa numa pequena aldeia japonesa em meados de 1860. Ali, naquele povoado, as pessoas com mais de 70 anos eram alocadas para as montanhas, visando aguardar a morte. Todos tinham que abandonar a comunidade para fazer sua travessia solitária. Para ele, o romance oferece uma potente alegoria para o que vem ocorrendo no banimento social envolvido em muitas casas de repouso. Ele pôde constatar ao vivo, com sua mãe, a dor que ela padeceu naquele lugar que deveria ser um saudável espaço de convívio e solidariedade. O seu testemunho traduz experiências que são avassaladoras, implicando descaso e mesmo maus-tratos[21].
Há ainda outro livro que gostaria de lembrar aqui, o da escritora Lídia Jorge, que aborda na obra a personagem Maria Alberta, inspirada em sua mãe. Escreveu o livro a pedido da mãe, e o faz através de um relato delicado, reproduzindo o dia a dia de sua mãe numa residência de repouso para idosos. Ela tinha ido para aquele lugar por vontade própria, depois de sair da casa dos pais. Em dado momento, Maria Alberta divaga sobre a sua presença naquele “lugar de exílio”:
“O meu espírito, por mais confinado que seja o percurso do meu corpo, até agora, verdadeiramente, não conhece prisão. Esta é a minha casa, mas o mundo lá fora é o meu espaço real. A maior parte dos companheiros que se movem no interior desta residência há muito que se esqueceram do que ocorre na Natureza, vivem aqui encerrados como se tivessem regressado ao útero materno (...). Se estou a descrever aquilo que está distante, é só porque possuí esses bens que agora me faltam. Melhor tê-los perdido que nunca os ter tido. Preencho a minha alma com as visitas sem fim que faço ao mundo que lembro como se de novo possuísse a Natureza que está longe. A tudo isto, eu, Maria Alberta Nunes Amado, designo por minha vida. É possível que um dia, tal como muitos de meus companheiros fechados no interior desta casa, acabe por ignorar o que se passa lá fora, enquanto as manhãs se parecerão todas umas com as outras e se confundirão com as tardes. Não quero viver essa condição. Estar viva é lembrar-me dos movimentos do tempo e do ritmo da floração”[22].
Como lidar espiritualmente com o envelhecimento? Que caminhos apontaria?
O passo da espiritualidade é fundamental não apenas para o cuidador como para quem vem cuidado. A espiritualidade é um traço fundamental na vida das pessoas e fornece um clima singular para o cuidado consigo e com os outros. Trata-se do carinho essencial com o mundo interior e a possibilidade de descobrir valores importantes na construção de si mesmo. Na sétima elegia de Duíno, Rilke sinaliza que “em parte alguma (...) o mundo existirá, senão interiormente”.
O que marca o nosso tempo, com toda a sua pressa, é a busca pelo desempenho e produtividade. Não há lugar para o idoso nesse tipo de sociedade. Há que encontrar pistas para outro tipo de percepção e olhar. Como diz Byung-Chul Han, uma vida espiritual e contemplativa envolve outro tipo de olhar: uma “pedagogia específica do ver”. Tudo isso pressupõe um caminho diverso: “Aprender a ver significa ´habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar-se aproximar-se-de-si”[23].
Fico feliz ao ver que os profissionais de saúde que lidam com o envelhecimento estão cada vez mais atentos ao desafio da espiritualidade. Cito aqui o exemplo de Ana Cláudia Quintana. A partir de sua prática clínica, pôde perceber como a espiritualidade revela-se fundamental, no caso, por exemplo, daqueles que estão sob cuidados paliativos. Em tais situações, “as pessoas que estão morrendo e suas famílias acabam entrando em contato com questões muito profundas da existência humana relacionadas à espiritualidade”[24]. E ela acrescenta que para abrir esse novo foco é fundamental o desapego no modo tradicional de abordar a questão. A meu ver, esse caminho espiritual, não vale apenas para os que passam por momentos delicados de saúde, mas para todos que querem uma vida mais equilibrada, saudável, respeitosa e acolhedora.
O senhor tem apontado a “cultura do cuidado” como uma das marcas do pontificado do Papa Francisco. Qual é a riqueza desses ensinamentos para aprimorar o cuidado aos idosos e enfermos?
Francisco tem ocupado um lugar distintivo na busca de uma “cultura do cuidado”. Talvez seja hoje no mundo uma das principais lideranças éticas, que convoca a nossa atenção para um jeito diferente de ser, numa sociedade marcada pela deteriorização ética e o desgaste da compaixão. Sua grande preocupação, expressa de várias formas, é com o futuro que está diante de nós, com o risco de tantas catástrofes; com “que tipo de mundo queremos deixar” aos que nos vão suceder. Trata-se de uma questão de séria responsabilidade.
O caminho é também interior, no sentido de criar uma “nova reverência” para com a vida, em todas as suas etapas. Alegrar-se sempre com o outro, independentemente de seu momento de vida. Desenvolver uma sensibilidade nova, que suscita um voltar-se para o outro com delicadeza, cortesia e alegria.
Em sua encíclica sobre o cuidado da casa comum (Laudato si), Francisco enfatiza que a “paz interior” das pessoas é requisito importante para uma postura diferente no mundo. Há que buscar recuperar uma “harmonia serena” com todo o nosso entorno, e também com os idosos. Um caminho que resguarde a paz interior é essencial para o equilíbrio saudável de um estilo de vida “aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade da vida” (LS 225).
Em seus inúmeros ensinamentos sobre a velhice, em várias audiências gerais das quartas feiras, no Vaticano, Francisco buscou enfatizar “o sentido e o valor da velhice”. E vem justificando a sua fala em razão do grande risco presente em nosso tempo do descarte dos idosos.
O papa tem acentuado com vigor que “a velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar atualmente”[25]. Os idosos são portadores de uma memória essencial, e segundo Francisco a sabedoria que os acompanha “deve ser vivida como uma oferta de sentido para a vida”. Ressalta ainda que se a velhice não for restituída em sua dignidade, são todos que perdem, com o risco de firmar-se um “desânimo que rouba a todos o amor”.
Quais as diferenças entre distanásia e ortotanásia? Qual prática é mais comum no Brasil?
O que mais se vê no Brasil, disseminado por todo lado é a mistanasia e a distanásia. Para grande parte de nossa população, privada do direito aos cuidados essenciais, o que impera é a mistanásia, ou seja, a total ausência de cuidados. Muito sofrem e morrem distantes de qualquer possibilidade de atendimento e cuidado. Para aqueles que conseguem algum acesso aos cuidados, ou aqueles que são portadores de recursos, o mais comum é a distanásia. Trata-se da prática mais recorrente no Brasil, sustentada por grande parte dos médicos e dos familiares dos pacientes.
A distanásia visa promover a todo custo o prolongamento da vida e do sofrimento dos pacientes. Trata-se de um procedimento de intervenção diagnóstica e atuação visando o prolongamento da vida. E para tanto recorre-se ao “uso obsessivo de recursos, resultando no aumento do sofrimento do paciente”[26].
Começa também a ocorrer no Brasil a afirmação de um novo procedimento, que é a ortotanásia, que prioriza a atenção aos cuidados paliativos. É um procedimento bem distinto da distanásia, que prioriza o “respeito pelo tempo da morte”. Trata-se de um trabalho sério e necessário, que faculta aos pacientes todos os cuidados necessários para aguardar o tempo da passagem “com a serenidade possível, sem dor, sem incômodos”.
Ainda são muito poucos os pacientes que no Brasil têm acesso aos cuidados paliativos, uma pena. Ana Cláudia Quintana diz, com razão, que a morte “é a nossa maior decisão sobre renunciar ao controle. Entregar o controle, deixando claro para quem cuida qual é o nosso limite, pode ser a única decisão que precisamos tomar”[27].
Com a ortotanásia o que se dispensa são os “tratamentos fúteis”, ineficazes, que acabam prolongando a dor do paciente e impedindo uma morte serena e harmoniosa. Como sublinha Ana Claudia, “desaconselhar ou suspender tratamentos fúteis que só prolongam o sofrimento de um ser humano é uma conduta profundamente ética e compassiva”[28].
Uma obra muito bonita, com o exemplo de opção pelos cuidados paliativos foi a publicada por Gilberto Dimenstein e Anna Penido: Os últimos melhores dias da minha vida (Record, 2020). Acometido por um câncer violento, Gilberto Dimenstein optou ao final pelos cuidados paliativos, sob a tutela de Ana Claudia Quintana.
A sua experiência no tratamento veio descrita de forma muito rica no livro. Em certo momento ele disse: “Câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida”. Ao passar pela difícil experiência, Dimenstein teve a singular oportunidade de “reaprender a ver e viver a vida a partir da perspectiva da morte”[29].
Outro recurso utilizado para lidar com o sofrimento terminal é a eutanásia e a morte assistida. Essa prática não é permitida no Brasil, mas em outros países como a Suiça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, e certas regiões dos Estados Unidos. Tais procedimentos visam corresponder ao desejo de pacientes que, por motivos diversificados, buscam interromper a corrente vital, evitando abreviar um sofrimento difícil.
Temos alguns filmes que abordaram o tema da eutanásia como: O quarto ao lado, Invasões Bárbaras, Mar adentro, Truman e outros. Há também um livro muito bonito que aborda o tema da eutanásia: Irvin D. Yalom & Marylyn Yalom. Uma questão de vida e morte. 2 ed. São Paulo: Planeta, 2021. O livro relata a dolorosa experiência de Marylyn Yalom, que padecia com um mieloma múltiplo, e que em certo momento, de muito sofrimento, decidiu pela interrupção de sua vida, mediante a morte assistida, tendo o total apoio de seu marido. Os dois resolveram escrever um livro juntos, em capítulos alternados, com a descrição de todo o processo que resultou na morte de Marylyn. O último capítulo ficou por conta do marido. É um livro muito bonito e delicado.
Aqui no Brasil tivemos recentemente a decisão do escritor e Imortal Antonio Cícero, que decidiu pela eutanásia na Suiça, deixando para os amigos e familiares uma carta explicando a sua decisão. Dizia na carta:
"Queridos amigos, Encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas – senão a coisa – mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços!"[30]
A meu ver, penso que a ortotanásia seja o caminho mais indicado, mas não tenho restrições a eutanásia, quando ela também se faz necessária. Não vejo pertinência em julgar as pessoas que, em liberdade, escolheram esse caminho, como fez Antonio Cícero. Concordo com Ana Claudia Quintana quando diz que ainda não há espaço para uma discussão lúcida e sensata sobre o direito à eutanásia no Brasil, sobretudo pelo fato de que apenas 0,3% da população brasileira tem acesso aos cuidados paliativos[31]. Temos que amadurecer mais, concordo, e ampliar a rede dos cuidados paliativos no país.
O que pode ser considerada uma morte digna?
A meu ver, a morte digna é aquela que faculta ao paciente a possibilidade de uma passagem honrosa, cujo processo de cuidado foi amparado por procedimentos de respeito, atenção e delicadeza com o paciente, evitando sofrimentos que poderiam ser dispensados com o recurso de medicamentos precisos. Trata-se de uma morte que vem precedida por respeito ao ritmo normal da pessoa, ao tempo da pessoa. Como diz o livro do Eclesiastes, há “tempo de nascer, e tempo de morrer”.
Qual é a visão de Tich Nhat Hahn e Hans Kung sobre a dignidade do morrer? Que argumentos e compreensões de vida e morte são apresentadas por esses autores?
No âmbito da reflexão teológica, Hans Kung foi um dos pioneiros a tratar o tema da eutanásia mais seriamente. Mesmo tendo morrido sem recorrer ao procedimento, o teólogo defendeu com firmeza o direito à eutanásia. Escreveu um longo livro abordando sua longa batalha em favor da vida e ao direito de uma morte digna[32]. Teólogo de grande envergadura e de reconhecimento internacional, Hans Kung passou a ter sérias dificuldades de saúde depois dos 84 anos: problemas de audição, de degeneração macular e o mal de Parkinson. Sua qualidade de vida deteriorou-se profundamente. Levantou a séria questão: “Por quanto tempo ainda continuarei a estar bem?”. Lançou sua tese: “O ser humano tem o direito de morrer quando não vê mais esperança numa vida conforme os critérios pessoais, quando firmou-se o sentido da vida e ele deseja a morte”[33]. Argumenta que ao decidir por sua morte, deseja que sua vontade seja respeitada. A morte, para ele, significa a configuração de um novo elo, a todos desconhecido: um mergulho no infinito da pessoa finita, ou ainda melhor, um mergulho no “núcleo da realidade”[34].
Por sua vez, o monge vietnamita Thich Nhat Hanh, que morreu aos 95 anos, em janeiro de 2022, defendeu uma visão da morte extremamente rica e audaciosa. Sua visão sobre o momento derradeiro da vida está conectada com a sua concepção da interexistência. Para ele, tudo o que existe na terra está interconectado e interdependente. Não há vida desligada da grande dança cósmica. Defende ainda a falência de visões que defendem uma substancialidade autônoma para as pessoas. Tudo o que existe debaixo do sol, a ser ver, vem abraçado pela impermanência.
O temor que envolve a morte vem para ele rompido quando se compreende a morte no circuito mais amplo da vida. Para o suave monge do Vietnã não há, propriamente nascimento ou morte, mas formas diferenciadas de inserção num ciclo maior, que não controlamos. Assim como as nuvens se transformam em outra coisa, assim também ocorre com os humanos e demais criaturas. Tudo muda de forma.
Para aqueles que praticam a contemplação profunda, diz Tich Nhat Hanh, o olhar consegue captar e entender essas modalidades distintas de existência. Diz ele: “Quando você pratica a contemplação profunda, você compreende que sua verdadeira natureza não nasce e não morre; não existe ou inexiste; não chega e não vai embora; não é igual nem diferente”[35]. A seu ver, é incorreto dizer que com a morte a pessoa se transforma em “nada”. A natureza da pessoa é, na verdade, como a nuvem, que passa por diversas transformações.
A partir do pensamento de Haraway e Emmanuele Coccia, como compreende-se a vida depois da morte?
Esses dois grandes estudiosos avançam numa reflexão ousada, extremamente rica para o entendimento da morte e do pós-morte. Donna Haraway foi pioneira na crítica ao antropocentrismo vigente no pensamento da modernidade pós-cartesiana. A seu ver, o ser humano não é o umbigo do universo, mas está inserido numa rede de conexões, em diálogo rico e alvissareiro com as “espécies companheiras”.
Quando Haraway fala da morte, apresenta-nos uma visão rica e desafiadora. O que ocorre com todos, depois da morte, não é um fim, mas um novo movimento. O ser humano não se apaga, mas transforma-se em composto vital. A autora sublinha que ela não é uma criatura do céu, mas da lama. O seu corpo vem animado, desde sempre, por organismos não humanos. Ela sublinha:
“Adoro o fato de que genomas humanos sejam encontrados em apenas 10% de todas as células que ocupam o espaço mundano que chamo de meu corpo; os outros 90% das células são preenchidos pelos genomas de bactérias, fungos, protistas”[36].
A morte lança novamente o ser humano na rede de emaranhados que está presente na compostagem que se segue. A autora complementa:
“Adoro o fato de que, quando ´eu` morrer, todos esses simbiontes benignos e perigosos tomarão e usarão o que restar do ´meu` corpo, nem que seja só por um tempo, já que ´nós` somos necessários uns aos outros no tempo real”[37].
Em semelhante linha de reflexão, o filósofo italiano, Emanuelle Coccia, defende a perspectiva da continuidade da vida. Assim como ocorre com os rizomas, a vida não tem, propriamente, um começo ou um fim. O que ocorre, sempre, é uma metamorfose. Como ele diz, “cada espécie é a metamorfose de todas aquelas que vieram antes dela”[38].
Na visão de Coccia, assim como a vida de cada ser vivo não começa com o seu nascimento, assim também o nosso sopro vital não se esgota em nosso cadáver. O ciclo da vida permanece sempre aceso. O que existe é uma “continuidade na transformação de cada espécie”.
Para Coccia, “a metamorfose é, a um só tempo, a força que permite a todos os seres vivos espalharem-se simultânea e sucessivamente por várias formas e o sopro que permite às formas conectarem-se entre si, passarem de uma para a outra”[39]. Nessa linha de reflexão, a morte não significa fim, mas “o limiar de uma metamorfose”. O destino de cada um de nós, acrescenta Coccia, “é tornar-se o corpo de uma outra espécie”[40], estamos, portanto, sempre trocando de casa.
Que narrativas sobre a morte têm lhe chamado a atenção a partir do livro da rabina Delphine Horville?
A rabina francesa, Delphine Horville, escreveu um maravilhoso livro sobre o tema do reconforto diante da morte. Seu livro, publicado no Brasil em 2023, veio apresentado pelo rabino Nilton Bonder.[41] A obra nos apresenta onze histórias de perda e consolo segundo a tradição judaica. De forma delicada e cortês, Delphine vai nos revelando no livro que a morte não se reduz ao mistério dos que se foram, mas ela continua na lembrança dos vivos.
Mediante as histórias apresentadas, Delphine busca ressignificar a morte a partir da vitalidade de sua memória, entre os queridos que ficaram. O passo essencial do reconforto diz respeito ao dom de ajudar as pessoas a perceberam que o outro vive para além de seu funeral. Trata-se de uma tarefa muito especial: ajudar os outros a reviverem e celebrarem a beleza da vida daqueles que se voltam agora para um novo limiar. A rabina nos salienta que é necessário, sempre, estar rodeado de vida para poder falar com pertinência sobre os nossos mortos.
O que mais lhe impressionou no testemunho do Papa Francisco enquanto ele esteve internado e pós-internação, nas primeiras manifestações públicas?
A forma como trabalha a espiritualidade do cuidado é dos traços que mais admiro em Francisco. Ele consegue, como poucos, relacionar o cuidado com a Terra, com o cuidado com os pobres e os excluídos, envolvendo também aí o desafio dos idosos. O papa sempre esteve atento, e assim permanece, ao desafio do cuidado com os idosos.
Ele tem o dom da hospitalidade, que é a capacidade única de romper com o círculo do eu para abrir-se ao mundo dos outros. Francisco tem consciência de que todos merecem o nosso abraço, independente de sua produtividade ou eficiência, mas em razão da sua própria “condição humana”. Ele tem clara consciência de que a globalização em curso excluiu os idosos, e também por essa razão ele se coloca na defesa desses descartados de nosso tempo. Sua luta é em favor da plena cidadania de todos, de sua dignidade sagrada. Os idosos, lembra Francisco, também podem, e como, dar uma contribuição substantiva para o bem comum.
Essa peculiar sensibilidade de Francisco com os idosos acirrou-se em razão dos sofrimentos por que passaram no tempo da pandemia do Covid 19. Ele lembra em sua encíclica sobre a fraternidade e a amizade social – Fratelli tutti -, que os idosos foram dos que mais sofreram durante a pandemia. Para Francisco, a pandemia não só nos despertou para valores esquecidos, bem como os nossos limites. Provocou igualmente, por toda parte, o apelo essencial em favor da mudança de nossos estilos de vida e de nossas relações.
Tendo vivido na pele a experiência da finitude, durante os quase quarenta dias que esteve internado, Francisco veio ainda mais despertado pela importância do cuidado com os outros. Sublinhou, após a saída de sua internação, no Angelus de 06 de abril de 2025, que pôde presenciar em si a presença amorosa do “dedo de Deus”, bem como sua “carícia solícita”. E reiterou sua vontade de que algo semelhante possa estar presente entre todos aqueles que padecem de dor e sofrimento, incluindo os idosos. E que o dom desse carinho e hospitalidade possa igualmente habitar naqueles que se dedicam ao cuidado com os outros.
[1] Rainer Maria Rilke. Elegias de Duíno. 6 ed. São Paulo: Biblioteca Azul, 2013, p. 21.
[2] Ibidem, p. 98.
[3] Ana Claudia Quintana Arantes. Pra vida toda valer a pena viver. Rio de Janeiro: Sextante, 2021, p. 20.
[4] Ana Claudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Rio de Janeiro: Sextante, 2019, p. 57.
[5] Ana Claudia Quintana Arantes. Cuidar até o fim. Rio de Janeiro: Sextante, 2024, p. 143.
[6] Ibidem, p. 247.
[7] Ibidem, p. 147.
[8] Ana Claudia Quintana Arantes. Pra vida toda valer a pena viver, p. 40.
[9] Ibidem, p. 41.
[10] Norbert Elias. A solidão dos moribundos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 16.
[11] 3Mirian Goldenberg. A invenção de uma bela velhice. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2023, p. 51
[12] Ibidem, p. 139.
[13] Lya Luft. Perdas & ganhos. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2013, p. 147.
[14] Simone de Beauvoir. A velhice. 4 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2024, p. 236.
[15] Simone de Beauvoir. A velhice. 4 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2024, p. 276-277.
[16] Annie Ernaux. Uma mulher. São Paulo: Fósforo, 2024, p. 47s.
[17] Ibidem, p. 48.
[18] J.M. Coetze. Contos morais. São Paulo: Companhia das Letras, 2021, p. 97.
[19] Didier Eribon. Vida, velhice e morte de uma mulher do povo. Belo Horizonte: Âyiné, 2024.
[20] Ibidem, p. 26.
[21] Ibidem, p. 98-102.
[22] Lídia Jorge. Misericórdia. Belo Horizonte: Autêntica Contemporânea, 2024, p. 97-99.
[23] Byung-Chul Han. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 51.
[24] Ana Claudia Quintana Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver, p. 128
[25] https://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html (acesso em 18/04/2025).
[26] Ana Claudia Quintana Arantes. Cuidar até o fim, p. 143.
[27] Ibidem, p. 147.
[28] Ibidem, p. 145.
[29] Gilberto Dimenstein & Anna Penido. Os últimos melhores dias da minha vida. Rio de Janeiro/São Paulo: 2020, p. 115.
[30] https://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2024/10/minha-vida-de-tornou-insuportavel-diz-antonio-cicero-em-carta-de-despedida-leia.shtml(acesso em 18/04/2025)
[31] Ana Claudia Quintana Arantes. Cuidar até o fim, p. 146.
[32] Hans Kung. Una bataglia lungo una vita. Milano: Rizzoli, 2014
[33] Ibidem, p. 1085.
[34] Ibidem, p. 1086.
[35] Thich Nhat Hanh. Sem morrer, sem temer. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 64-69.
[36] Dona Haraway. Quando as espécies se encontram. São Paulo: Ebu, 2022, p. 11.
[37] Ibidem, p. 10-11.
[38] Emanuele Coccia. Metamorfoses. Rio de Janeiro: Dantes Editora, 2020, p. 15.
[39] Ibidem, p. 20.
[40] Ibidem, p. 114-115.
[41] Delphine Horvilleur. Viver com nossos mortos. Pequeno tratado de reconforto. 2 ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2021.
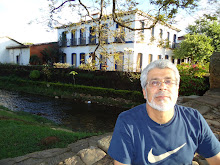
Nenhum comentário:
Postar um comentário