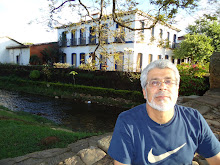Como ficam os ateus na fala do papa Prevost dirigida aos cardeais eleitores ?
Retomando aqui um trecho da homilia de Leão XIV na missa “Pro Ecclesia” celebrada com os cardeais eleitores na Capela Sistina, em 09 de maio de 2025:
“São ambientes onde não é fácil testemunhar nem anunciar o Evangelho, e onde quem acredita se vê ridicularizado, contrastado, desprezado, ou, quando muito, suportado e digno de pena. No entanto, precisamente por isso, são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação – sob as mais dramáticas formas – da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre, e não pouco”
Minha reflexão centra-se aqui na ideia pontuada pelo papa a respeito do que pode ocasionar a “falta de fé”. Para Prevost, essa carência de fé pode trazer, muitas vezes, “a perda do sentido da vida”.
Trata-se de uma afirmação forte, que se não vem bem explicada pode relativizar o significado fundamental da dignidade que habita também aqueles que não têm fé.
Lembro-me de um clássico artigo de Karl Rahner, escrito na Revista Concilium, num dos primeiros números da revista, onde abordava o tema da dignidade dos ateus. Foi um artigo pioneiro, que abriu portas singulares para a revalorização do ateísmo.
Mais recentemente, tivemos o belo debate entre o cardeal Martini e Umberto Eco, publicado com o título: “Em que creem os que não creem” (1999).
Numa das falas de Martini, a respeito da possibilidade de esperança, que seja comum a crentes e não crentes, ele nos lembrou que “existe um húmus profundo que crentes e não crentes, pensantes e responsáveis, alcançam, sem que, no entanto, consigam dar-lhe o mesmo nome”
Dialogando com nobreza com o cardeal Martini, Umberto Eco sublinha que parece ser evidente
“que uma pessoa que nunca teve a experiência da transcendência, ou perdeu-a, pode dar um sentido à própria vida e à própria morte, pode-se sentir confortado só com o amor pelos outros, com a tentativa de garantir a alguém uma vida vivível, mesmo depois que ele mesmo já tenha desaparecido”.
Concordo plenamento com Umberto Eco, e entendo que este debate foi muito importante para os desdobramentos da discussão sobre a dignidade “salvífica” da narrativa e testemunho daqueles que não creem.
Vejo também que hoje precisamos recuperar o significado mais amplo de salvação. O que é a salvação. A meu ver, a dinâmica da salvação está presente numa “vida bem sucedida”, como tão bem mostrou Luc Ferry em obra singula: “O que é uma vida bem sucedida?” (2002).
Escrevi há tempos um artigo sobre essa questão da “salvação” para além das religiões, que foi publicado num livro meu: “Cristianismo e diálogo inter-religioso” (Fonte Editorial, 2014). Busquei ali trabalhar o que chamei de “retomada da positividade da salvação”. Citava no artigo uma passagem de Clodovis Boff, que dizia: “a salvação existe fora e independemente de sua consciência”. É uma frase que está na tese doutoral de Clodovis, e que gosto muito. Na verdade, o cristianismo não pode ser identificado com o lugar da salvação nem mesmo seu instrumento exclusivo. Isso é muito importante. Recorrendo ao pensamento do clássico teólogo de Louvain, Adolphe Gesché, podemos dizer que o sentido primário de “salvação” nos remete a algo de positivo, onde estão presentes termos como: forte, sólido, sadio. Nessa linha de reflexão, a “salvação” tem a ver com uma aspiração universal do ser humano: “conduzir alguém a realizar o sentido de sua existência”. Trata-se, portanto, de algo bem terrenal e cotidiano. Daí também dizer Schillebeeckx: “Fora do mundo não há salvação”.
Por fim, chamo aqui a atenção para a recente reação à homilia de Leão XIV, feita pelo importante teólogo italiano, Vito Mancuso, que vai em linha bem semelhante à minha própria reação. Ela foi publicada no jornal italino La Stampa. Partilho aqui em italiano mesmo:
“ (...) L’altra affermazione di Papa Leone mi ha sorpreso ancora più negativamente, perché collega direttamente la mancanza di fede con gli effetti negativi da lui citati quali l’assenza del senso della vita, l’oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona, la crisi della famiglia.
A mio avviso sono parole ben poco felici.
Lo dico pensando a tante persone che non hanno, o non hanno più, la fede in Dio, e che non per questo sperimentano tutti quei drammi descritti dal Papa, né dimenticano la misericordia, anzi al contrario talora contribuiscono non meno dei credenti ad aiutare i bisognosi.
Tanto per fare un nome, penso a Gino Strada, il quale non ha avuto bisogno della fede in Dio per fare tutto il bene che ha fatto.
Senza contare, poi, che all’opposto vi sono credenti, anche molto fervorosi nell’esibire la loro fede, che invece non esitano a compiere ciò che il Papa ha definito «la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche»: e il pensiero, ovviamente, non può non andare ai numerosi esponenti del clero protagonisti di abusi sessuali sui bambini in tutto il mondo. O ai furti e agli scandali finanziari avvenuti recentemente proprio in Vaticano. O ad altre malvagità che è inutile elencare.
Io non sono ateo, non lo sono mai stato e spero di non diventarlo perché il patrimonio ideale della fede in Dio, insieme all’amore della mia famiglia, è quanto più mi sostiene nel cammino dell’esistenza.
Però ho imparato dal mio maestro spirituale, il cardinale Carlo Maria Martini, che esiste una dimensione importante, vorrei dire un “magistero”, dell’ateismo, per rispetto del quale Martini fondò a Milano l’iniziativa detta “Cattedra dei non credenti”. Egli diceva che dentro di lui esistevano un credente e non credente che ogni giorno lottavano tra loro alla ricerca della verità.”
Concluo minha exposição, retomando uma reflexão de Adolphe Gesché, no belo livro: “O sentido” (2005).
Para o teólogo belga, “a concepção teândrica do cristianismo exige que o ser humano seja respeitado em sua heterogeneidade (Concílio de Calcedônia) para ser verdadeiramente mediação de Deus. Poder-se ia falar aqui, de ´reserva antropológica`, no sentido em que se fala ´reserva hermenêutica` ou, ainda, de ´reserva escatológica, para significar essa obrigação de respeitar completamente o humano no humano, respeito que, sem cessar, vem corrigir o risco de uma realização já completamente acabada”.
Gesché nos chama a atenção, de forma correta, para o risco de um “perigo incestuoso de ficar entrincheirado nas suas próprias referências”. Daí a importância substancial do aporte de um certo paganismo para a sanidade da fé. A necessidade de escuta do diferente, daquele que nos interroga e nos tira da “solidão dos que têm razão”, como sempre dizia um grande amigo, Luiz Alberto Gómez de Souza.
O grande teólogo belga nos adverte sobre a importância de uma “ausência cristã” para relativizar nossas certezas engessadas, fruto de uma tradição que está sempre atrás do tempo, quando não contra o tempo.
Gesché sublinha que o cristianismo precisa não só dessa “ausência cristã”, ou de uma paganidade (alteridade externa), mas igualmentede uma “pitada de ateísmo”, de modo a favorecer uma interface fundamental: de um lugar “fora de sua residência”, para poder melhor equilibrar a casa face aos fundamentais desafios do tempo. Precisamos na igreja não apenas de sensos fidelllium, mas igualmente de um sensos infidelium, ou seja, a salvaguarda de uma pars paganorum, com o fim de bloquear saudavelmente uma “fé que se julgaria toda acabada nela e toda dada por ela”.
E vamos levando nossa caminhada...